O Conto do Corretor de Imóveis: o Diário de Bordo do Demônio
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
O pergaminho estava manchado de ferrugem e mofo, as bordas esfarelando como casca de árvore antiga, uma relíquia resgatada do fundo de um túmulo úmido ou da sarjeta de algum arquivo esquecido. Atribuído à letra de Jonathan Harker, este texto, no entanto, não constava em nenhuma das edições conhecidas de suas memórias; um fragmento arrancado, talvez, ou censurado pela prudência dos seus editores, que julgaram seu conteúdo demasiado profano ou perturbador para a sensibilidade vitoriana.
O texto inicia-se assim, com a letra trêmula, por vezes quase ilegível, denunciando o tremor febril da mão que o escreveu:
Castelo do Conde Drácula, Noite Sem Lua
Tenho vivido dias que não ouso mais contar em números, pois a contagem se tornou um luxo que a minha mente não pode mais pagar. Não sei se é segunda-feira ou se já se arrasta o oco e frio domingo. Aqui, o tempo não flui; ele é devorado pelas paredes de pedra, digerido no silêncio espectral. A única marca do calendário é a ascensão da lua, que o Conde observa com uma paciência glacial, e as minhas tarefas, que se tornam mais bizarras e exigentes a cada noite que se afunda nas brumas da Transilvânia.
O Conde exige mais de mim. Não mais apenas as escrituras ou os negócios de Hillingham – um pretexto lamentável para me atrair para este calabouço de séculos. Agora, ele me interroga sobre tudo o que Londres esconde em suas entranhas modernas. Ele me esvazia, não de sangue, mas de informação.
Esta noite, fui novamente conduzido à sua biblioteca. Não é apenas vasta; é viva. Seus pilares de madeira escura elevam-se até um teto arqueado, onde sombras dançam, e as estantes se perdem na escuridão, repletas de tomos amarelados e cheiro de adormecimento. Os livros respiram poeira antiga e exalam um ar pesado, de mofo e conhecimento proibido, um aroma que parece alimentar o próprio Conde. A luz de poucas velas, presas em castiçais de prata maciça e retorcida, mal ilumina o centro da mesa, lançando um brilho covarde sobre mapas desdobrados e cadernos de anotações.
— Senhor Harker — disse ele, e a sua voz, grave e ligeiramente anasalada, carregava o som de pedras sendo arrastadas, ou talvez, do gelo quebrado de uma montanha. Ele se aproximou de mim com aquele hálito gélido que parece sorver o calor do ambiente, quase como se fosse uma nevasca localizada, e que parecia apagar a pequena chama das velas.
— Fale-me do vosso mundo. Do vosso... progresso.
Ele não se sentou. Permaneceu de pé, alto e ameaçador, a silhueta projetada pelas velas criando uma figura grotesca e distorcida contra a parede de pedra. Seus olhos brilhavam não como os de um estudante ávido, mas de um predador que fareja a artéria pulsante da modernidade. Havia uma impaciência cruel em sua postura, como um animal enjaulado observando o campo aberto.
Respondi-lhe, tentando manter a compostura, vestindo a máscara da cortesia profissional, embora soubesse que era um corretor de almas, e não de imóveis.
— Vossa Senhoria já possui uma coleção vasta. De que tipo de progresso deseja saber? De arte? De engenharia naval? De... mineração?
Ele sorriu. Um sorriso que não era humano. A linha fina de seus lábios se esticou, revelando uma frieza atemporal.
— Não da arte que é estática, nem dos navios que são lentos. Quero saber das vossas máquinas que falam sem voz. Daquelas que permitem que dois homens separados por milhas se escutem como se estivessem lado a lado, ou que lançam a notícia de um terremoto na Índia sobre uma mesa de café em Fleet Street antes que a terra se acalme.
Percebi, com um horror que gelou a medula dos meus ossos, que ele falava do telefone e do telégrafo. Não era a magia que o assustava, mas a velocidade.
— Sim, Conde. O Telefone. Uma invenção relativamente recente, mas já se espalha pelas cidades, criando uma teia de comunicação que... que encurta distâncias.
— Fascinante — interrompeu ele, a palavra dita com a mesma reverência que se daria a um ritual macabro. Ele passou os dedos longos, cujas unhas pareciam lâminas afiadas e polidas, sobre um atlas aberto, cujas páginas datavam de séculos, como se estivesse tocando um corpo vivo, ou talvez, um mapa de veias.
— Vozes que viajam por fios. Fios que penetram paredes, atravessam ruas, ignoram a escuridão e as fronteiras. Um sistema de veias invisíveis que corre sob a cidade, pulsando com a vida de outros. A própria alma do progresso — e então, ele inclinou-se, o olhar fixo e penetrante. — Um sistema de veias que ninguém vê.
Suas palavras soaram não como uma curiosidade acadêmica, mas como um diagnóstico preciso: não era interesse, era fome. A fome de um ser que depende do isolamento para caçar, e que via o seu campo de caça encolher a cada novo cabo estendido.
Fui obrigado, nas noites seguintes, a desenhar mapas. O Conde me forçava a traçar o labirinto. Usei tinta e carvão para delinear o traçado dos cabos telegráficos que percorriam toda a Europa, atravessando montanhas e mares, para finalmente desembocar no coração de Londres, na central de Holborn. Cada linha era uma artéria que ele desejava cortar, cada estação de retransmissão, um ponto vulnerável.
Mas não era apenas a comunicação.
Mostrei-lhe o labirinto dos esgotos que sustentava a cidade, a infraestrutura complexa que eliminava a sujeira e permitia que a elite esquecesse o subsolo. Mostrei-lhe o metrô, o Underground Railway, aquela serpente de ferro que corria sob os alicerces, vibrando e escavando o ventre de Londres, carregando milhares de almas a velocidades inconcebíveis para a sua época. E o sistema de jornais que, em poucas horas, lançava uma notícia fresa, uma advertência, uma descrição em cada mesa de café e em cada lar, unindo a cidade numa consciência coletiva e instantânea.
Ele absorvia cada detalhe com uma avidez silenciosa e voraz. Era a sua lição de casa. Ele tomava as minhas anotações, copiava-as com sua caligrafia elegante e arcaica, memorizava os nomes das centrais, das estações, dos engenheiros. Ele estava estudando o organismo.
— O vosso Van Helsing — disse ele certa noite, pronunciando o nome como quem mastiga veneno ou uma relíquia sacra. Estávamos na sala principal, onde a luz da lareira criava mais sombras do que calor, e onde ele costumava me reter até as primeiras horas do amanhecer, quando o medo se tornava quase insuportável. — Ele não me teme apenas com cruzes ou estacas. Ele teme a vossa rapidez. A velocidade da palavra.
Ele se levantou, caminhando até a janela, onde a neblina rastejava no pátio exterior.
— Os telegramas que unem caçadores separados. O correio que voa mais rápido que cavalos. Aquele seu telefone que o avisa de uma vítima antes que o sol se ponha. É essa a vossa verdadeira armadura, Harker. A vossa rede.
Seus olhos arderam em um vermelho profundo, a cor de uma brasa na escuridão, e a frieza de sua voz se intensificou, assumindo a solenidade de uma promessa de destruição.
— Para derrotar-vos, devo tornar-me mais veloz que a própria mensagem. Devo me infiltrar no vosso sistema de veias, e drená-lo de vida, de comunicação, de certeza.
Nesse instante, a revelação atingiu-me com a força de um soco no estômago, tirando o pouco ar que ainda me restava. Ele não queria Londres apenas por suas casas senhoriais, nem por suas vítimas, cujos pescoços representavam apenas o combustível necessário para sua travessia. Ele queria Londres por sua rede. Sua trama subterrânea de fios, túneis e informações. Ele planejava um ataque não apenas físico, mas logístico.
Ele era o Demônio, o Corretor de Imóveis, e o maior negócio que ele planejava fechar era a aquisição da infraestrutura do mundo moderno. Ele estava vindo para a civilização, mas não para se esconder nas sombras; estava vindo para aprender a desligá-la.
Mais tarde, encontrei-me sozinho em meu quarto, um pequeno cubículo frio onde a única companhia era o ranger das traves velhas no telhado e o silêncio opressor. Escrevi com o coração em chamas, a pena riscando o pergaminho com uma urgência desesperada. A cada palavra, sentia-me mais próximo da loucura, mas a necessidade de registrar a verdade era mais forte que o instinto de autoconservação.
— Ele não estava aprendendo a viver entre nós. Estava aprendendo a nos desligar. A nos desconectar. A nos isolar, célula por célula.
E assim, termino este registro, sem saber se verei a luz do dia, ou se Londres, minha pátria, minha cidade-máquina pulsante, verá a luz alguma vez mais. Pois temo que, quando Drácula caminhar em nossas ruas — e a ideia me faz sentir náuseas de terror —, não será o sangue que ele drenará primeiro. Será o mundo invisível das conexões que nos mantém unidos, que nos permite gritar por socorro através de milhas, que nos torna um organismo. Ele fará de Londres uma ilha, e então, um deserto de ecos. Ele cortará os fios, e a escuridão será absoluta.
Este fragmento encerra abruptamente, a última palavra distorcida, como se a pena tivesse sido arrancada bruscamente da mão de Harker. Não há continuação. O que resta é apenas o silêncio de uma página em branco, como se as palavras seguintes, o ápice do terror, jamais tivessem conseguido escapar da escuridão para a luz do registro.

Bruno Reallyme
Bruno Silva, conhecido como Bruno Reallyme, é um escritor com deficiência visual que encontrou na escrita a extensão de seu olhar sobre o mundo. Com formação em Ciências Econômicas, Contábeis e Gestão, ele navega por diversos gêneros, como poesia, romance, suspense e terror. Sua escrita busca a autenticidade e a identidade profunda do "reallyme" — "realmente eu" —, revelando em cada palavra um universo sensível, crítico e apaixonado por narrativas. » leia mais...
 19ª Edição: Revista Castelo Drácula®
19ª Edição: Revista Castelo Drácula®
Esta obra foi publicada e registrada na 19ª Edição da Revista Castelo Drácula®, datada de outubro de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula®. Todos os direitos reservados ©. » Visite a Edição completa
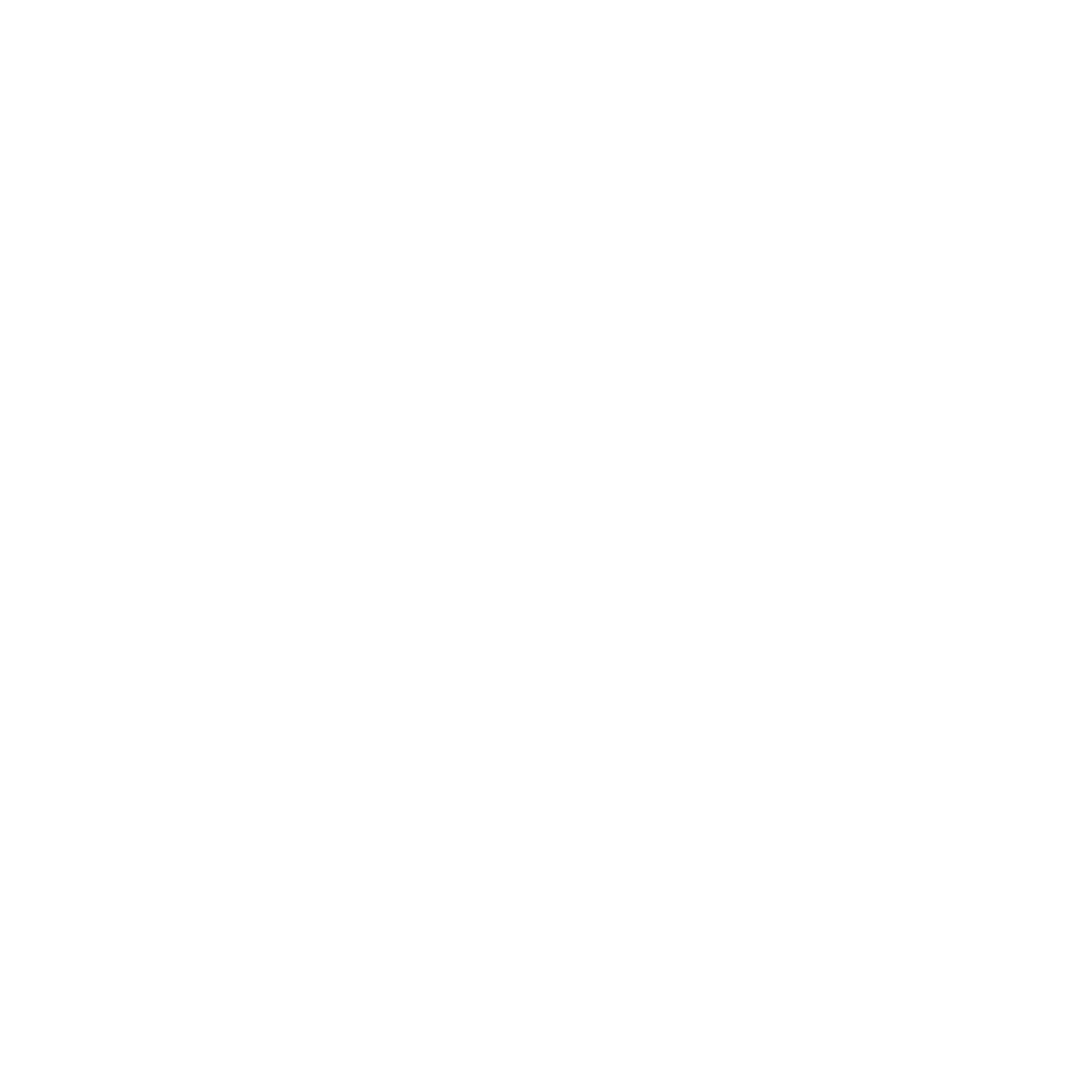




Diário de Sibila von Lichenstein. (Sem data - que dia é hoje?) A partida de Arale deixou um vazio em meu interior. Era curioso — talvez até contraditório…