O Baile do Silêncio
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
A antiga Mansão Hollengrave não se erguia: ela se impunha, uma massa compacta e sombria de pedras escuras cravada no topo de uma colina, como um mausoléu esquecido pelo tempo. A névoa, densa e fria, não subia; ela se arrastava pelo chão como dedos espectrais à procura de algo perdido, envolvendo a estrutura em um sudário úmido. Os vitrais partidos, restos de desenhos góticos de anjos caídos e figuras distorcidas, refletiam a lua em fragmentos de luz doentia. Lá dentro, as abóbadas internas perdiam-se na escuridão, iluminadas apenas por candelabros de prata antiga cujas chamas trêmulas se contorciam, finas e pálidas, como se resistissem à própria existência em um ar tão pesado. O cheiro era de mofo, cera queimada e, subjacente a tudo, um perfume metálico de decadência.
O convite para o Baile de Halloween dos Silenciados chegara com a precisão de um epitáfio. Vinha em um envelope negro de papel áspero, com bordas que pareciam luto, lacrado por uma espessa gota de cera vermelha escura, quase preta. Na parte interna, a caligrafia elegante e sinuosa trazia a única regra e a única senha:
“Somente aqueles que conhecem a noite em silêncio compreenderão o chamado.”
Aaron Melchior — alto, de compleição esguia e ombros tensos sob a casaca de veludo. Seus olhos profundos, de um castanho intenso, estavam sempre em alerta, absorvendo o mundo com uma vigilância que a maioria das pessoas, dependentes do som, jamais conheceria. A perda do sentido era a sua bússola. Ele sentia a vibração no chão, lia a tensão nos músculos e a mudança de ritmo nos corações.
Ao seu lado, Lídia Vessoni era um contraste vibrante. Seu vestido carmesim de seda, que se movia em camadas de véus, parecia ter sido feito de névoa sangrenta, contrastando com sua pele de porcelana. Lídia não apenas vestia a cor; ela a encarnava. Ela se comunicava não apenas com as mãos, mas com todo o corpo: a inclinação da cabeça, a forma como a mão repousava no antebraço de Aaron. Ambos partilhavam a ausência do som desde o nascimento. Não havia palavras articuladas, apenas o silêncio mútuo. Sua comunicação fluía em olhares longos e complexos, em gestos precisos da Linguagem de Sinais (LS) e em uma cumplicidade que tornava cada movimento, cada toque, imediatamente compreensível um para o outro. Eram duas metades de um mesmo silêncio.
Ao atravessarem as portas de carvalho maciço e entrarem no imenso Salão Hollengrave, Aaron sentiu o primeiro arrepio que não vinha do frio da noite. Era a vibração, o detalhe que o fez apertar a mão de Lídia com mais força: todos ali eram como eles. Surdos.
O salão estava repleto. Damas em vestidos sombrios de seda e tule, cujas máscaras cobriam metade do rosto, revelando apenas sorrisos contidos. Cavalheiros de casacas pretas rigidamente abotoadas e máscaras douradas simples, quase sem feições. Eles dançavam.
Dançavam uma valsa invisível. Não havia som, mas o ritmo era palpável. O olhar dos convidados seguia o Maestro, uma figura alta e esguia, envolta em um fraque antiquado, que agitava a batuta com precisão maníaca no palco de ébano. Diante dele, os músicos eram mudos. Seus violinos, violoncelos e harpas estavam posicionados, mas os arcos apenas roçavam o ar, as cordas eram tocadas com a leveza de fantasmas. Não havia música, mas o corpo de cada dançarino seguia o compasso imaginado, uma sinfonia coreografada pelo silêncio.
As paredes, de um verde musgo desbotado, estavam adornadas por espelhos antigos com molduras de bronze corroído. Eram espelhos imperfeitos, que distorciam a luz. Mas havia algo mais perturbador. Aaron percebeu que, em cada reflexo, a imagem parecia sempre atrasada. Um segundo, talvez menos, mas o suficiente para que os convidados reais e suas imagens fossem duplos, presos em outra dimensão de tempo.
Aaron apertou a mão de Lídia. O aperto era um código entre eles. Seus olhos, que se encontraram por um instante sob as luzes trêmulas, sinalizaram o terror: algo não está certo. A mansão não era um simples local de encontro; era uma armadilha de cumplicidade.
De repente, a harmonia perturbadora da valsa silenciosa foi interrompida. Uma convidada – Srta. Majory Darven, com uma máscara de penas pretas que cobria todo o rosto – caiu no meio do salão. O som não existia, mas o impacto visual foi violento. As luzes das velas vacilaram ao mesmo tempo, como se um sopro tivesse percorrido o salão. O corpo de Majory tremeu no chão, uma convulsão silenciosa, como se uma onda de energia percorresse seus ossos. E então… o silêncio continuou, mas seus olhos se arregalaram em desespero puro.
Quando ela se levantou, cambaleando, algo estava dramaticamente diferente: seus gestos, antes elegantes na dança muda, eram agora bruscos, descontrolados, como os de um fantoche cujos fios foram cortados. Ela levou as mãos à cabeça, apertando as têmporas. Ao abrir a boca, um grito sem som deformava-lhe o rosto, um contorcimento de horror mudo que ela não conseguia parar.
— Ela está ouvindo algo… — sinalizou Lídia, suas mãos voando em movimentos rápidos e horrorizados. Sua expressão era de náusea.
Aaron percebeu a progressão do terror. Um a um, os convidados começavam a reagir como Majory. O Sr. Cadwell Ormond, um homem de bigodes finos, pálido como marfim, levou as mãos às orelhas, numa tentativa frenética e instintiva de tapá-las. A Lady Miriam Eckhart, conhecida por sua calma gélida, cambaleou, e lágrimas de sangue começaram a correr-lhe dos olhos, escorrendo sobre o vestido de veludo negro.
Havia uma nova presença no salão. Era invisível, inaudível para Aaron e Lídia, mas era perceptível na forma como o ar parecia vibrar, na tensão dos rostos, e, mais aterrorizante, nos reflexos dos espelhos.
Aaron arrastou Lídia para trás, até um canto escuro, diante de uma tapeçaria puída que representava uma cena de caça macabra. Ele usou a comunicação tátil — uma forma de LS de toque rápido e pressão — escrevendo rapidamente em sua mão, com a ponta do dedo, sentenças curtas e urgentes: Eles. Estão. Ouvindo. O. Que. Nós. Não. Podemos.
E então veio a revelação, tão clara e brutal quanto um golpe físico. Nos espelhos, as versões atrasadas dos convidados não apenas se moviam: eles gritavam. Suas bocas estavam abertas em berros histéricos; eles cobriam os ouvidos com as mãos esqueléticas e imploravam por socorro. Não era mero reflexo. Eram eles, os seres reais, aprisionados em uma dimensão paralela onde o som existia — e onde algo sussurrava, gritava, ou gemia.
— Você vê? — sinalizou Lídia, os olhos fixos em um ponto atrás da confusão. Ela apontou para o Maestro.
O Maestro não estava mais de pé. Estava curvado sobre o pódio. Sua batuta não era mais madeira. Era um osso humano polido, ensanguentado, que ele agitava com uma pulsação sinistra. Sua boca estava aberta, escancarada em uma forma que não era humana, deixando escapar uma sombra líquida, negra e oleosa, que escorria pelo palco.
A sombra subia. Subia pelos corpos dos músicos mudos, deformando-lhes os rostos. Os violinos não tinham cordas. As cordas de seus instrumentos eram seus próprios nervos tensionados, brilhantes e úmidos, vibrando com a presença da Sombra. O Maestro estava conduzindo a dor, orquestrando o tormento auditivo.
Um arrepio gélido percorreu a espinha de Aaron, um medo visceral que ele nunca sentira. Aquilo não era um baile. Era um ritual. O evento não celebrava a ausência de som, mas preparava os surdos para o tormento final: fazê-los ouvir o que jamais deveriam. A Sombra era a encarnação do Som Primordial do Horror.
Um por um, os convidados eram consumidos. A cena era uma tela viva de horror silencioso. Não se ouvia nada, mas via-se tudo: gargantas dilaceradas sem ruído, olhos suplicantes cheios de lágrimas de sangue, bocas abertas em gritos mudos que só os espelhos registravam.
Aaron e Lídia tentaram fugir. Correram para as portas principais, mas elas estavam seladas por correntes grossas que se moviam sozinhas, enrolando-se nas maçanetas com a lentidão de serpentes. As janelas, quando Aaron conseguiu quebrá-las com a base de um candelabro, revelaram apenas mais paredes da própria sala, como se a mansão fosse um labirinto de Mobius, uma gaiola sem saída.
No centro do salão, o coração do ritual, os espelhos começaram a rachar. As fissuras surgiam como teias de aranha negras, e das fendas brotaram mãos negras, esqueléticas, que não eram reflexos, mas tentáculos de uma realidade faminta. Majory foi a primeira a desaparecer. Seu corpo, ainda convulsionando em audição forçada, foi sugado para dentro do vidro pela sua própria versão distorcida, deixando apenas um vestígio do vestido carmesim.
Aaron puxou Lídia com desespero febril para o último ponto de sombra. Mas, ao olhar para o espelho diante de si, ele congelou. Não pela mão, mas pela expressão. Sua versão refletida estava sorrindo. Sorrindo de um modo que ele nunca sorrira: um sorriso de cumplicidade macabra, os olhos vibrando com uma alegria doentia, já contaminado pela Sombra.
— Não olhe! Se concentre em mim! — sinalizou Lídia, seus movimentos eram de puro pânico, tentando chamar a atenção dele, mas já era tarde demais.
A mão espectral do reflexo atravessou o vidro com a facilidade de um fantasma e agarrou Aaron pelo rosto. Ele sentiu a pressão esmagadora e a textura fria da morte.
E então… som.
O mundo explodiu. Não foi um barulho. Foi uma invasão. Um sussurro insuportável, como mil vozes gritando ao mesmo tempo a sua ignorância, a sua insignificância. O som era físico: queimando sua mente, rasgando-lhe o crânio por dentro, o berro da entropia. Era a primeira vez que Aaron ouvia algo — e ele soube, com a certeza fria do destino, que seria a última.
Lídia caiu de joelhos, o chão vibrando com a agonia que ela não podia ouvir, mas podia sentir. Ela viu Aaron ser tragado pelo espelho, seu corpo desaparecendo no vidro líquido. Sua imagem refletida, a versão que havia sorrido, não estava em pânico: ela dançava, leve, ao som de uma melodia inaudível de puro horror.
Quando a última vela no candelabro de prata se apagou, o salão foi engolido pela escuridão total. Restou apenas o silêncio absoluto da Mansão Hollengrave.
O salão estava vazio, exceto pelos espelhos — onde todos ainda dançavam, aprisionados, ouvindo eternamente o que jamais deveriam.

Bruno Reallyme
Bruno Silva, conhecido como Bruno Reallyme, é um escritor com deficiência visual que encontrou na escrita a extensão de seu olhar sobre o mundo. Com formação em Ciências Econômicas, Contábeis e Gestão, ele navega por diversos gêneros, como poesia, romance, suspense e terror. Sua escrita busca a autenticidade e a identidade profunda do "reallyme" — "realmente eu" —, revelando em cada palavra um universo sensível, crítico e apaixonado por narrativas. » leia mais...
 19ª Edição: Revista Castelo Drácula®
19ª Edição: Revista Castelo Drácula®
Esta obra foi publicada e registrada na 19ª Edição da Revista Castelo Drácula®, datada de outubro de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula®. Todos os direitos reservados ©. » Visite a Edição completa
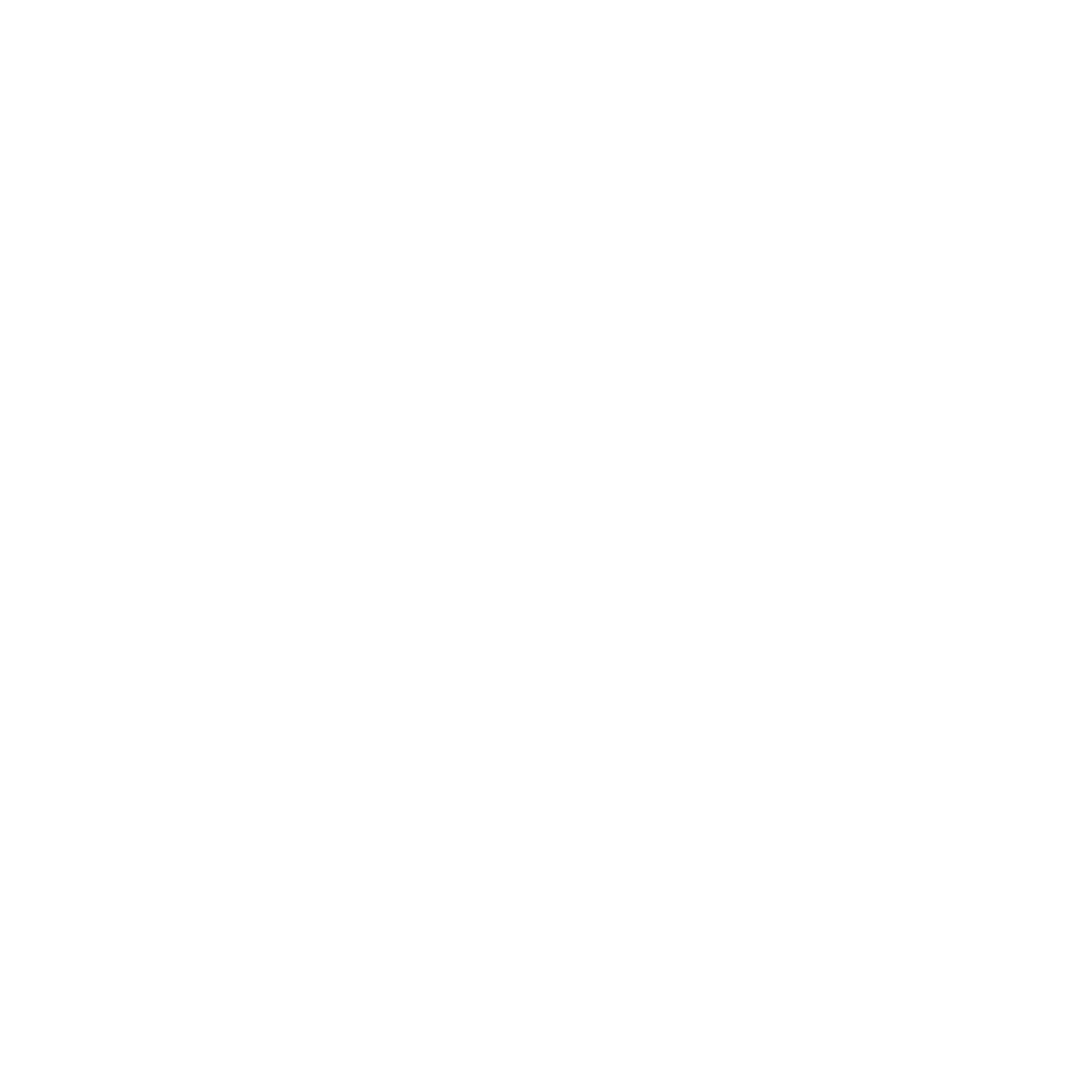




Caríssimo Dom Søren. No meu coração reside uma profundeza triste que, como uma tenra maré, movimenta-se em ondas frígidas sobre a areia…