10 - Na hora certa
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
Diário de Sibila von Lichenstein
15 de Outubro de 1870?
O diário ainda estava quente entre minhas mãos quando o cerrei. Não conseguia me conformar com o que fizera a Viktor. As palavras dele latejavam em minha mente, como se tivessem sido infundidas com um veneno pernicioso. Ah, se eu pudesse exterminar essa frase maldita da minha mente. Tal lembrança pesava em meu peito. Escrevê-las dava uma certeza cada vez mais absoluta sobre uma verdade que eu já sabia, mas não queria aceitar… Eu não o odiava tanto quanto imaginara. Eu não era consumida somente pela culpa. O que também me atormentava era a certeza de que essa estranha saudade rangia: eram as engrenagens da razão e do coração que nunca se encaixavam. A sensação era de agonia e alegria. Eu evitava pensar nele, não só para evitar um choro convulsivo carregado de arrependimentos pelas escolhas erradas que fiz.
Eu evitava pensar nele porque a saudade me dilacerava; eu sentia falta de estar deitada ao lado dele em seu quarto, lendo compêndios enormes de medicina. Sim… era isso: eu amava o meu preceptor e também amava odiá-lo.
Foi então que um galho seco se partiu atrás de mim, um estalo súbito que cortou o ar gelado. Saí do transe. Era hora de subir. Hora de deixar as memórias — ou ser devorada por elas. Um gato, que tive a impressão de ser Meia-Noite, apareceu, deixando as marcas de suas patas no chão frio. Ele subia a estradinha que levava para Séttimor. Antes de virar uma curva e desaparecer, ele miou e olhou diretamente em meus olhos, assustado.
Levantei-me apressadamente, perseguindo a lembrança de algo familiar; ou talvez, só para ter a certeza de que era apenas um gato comum. Ao dobrar a curva, ele já não estava lá. Conforme eu subia, um murmúrio começou a se avolumar. Reconheci aqueles sons. Sim. Eu já os ouvira antes. Eram vozes infantis — choros abafados, soluços frágeis, lamentos curtos — exatamente como os que ouvira quando estagiava no berçário do hospital. Quanto mais eu avançava pela montanha, mais elas se multiplicavam.
Pensei estar aproximando-me do topo, mas aquilo não fazia sentido; eu não avistava nada além do vento cortante ululando por entre árvores de galhos ressequidos. O frio fazia minha carne tremer e meus dentes rangerem.
Era eu contra a montanha.
Os músculos doíam, mas já não sentia meus pés e mãos. Apesar disso, continuei a subir. Era caminhar ou morrer. Meus olhos começaram a vasculhar, procurando por um mínimo sinal de vida: alguma construção, alguma luz distante ou até mesmo a fumaça de alguma chaminé. Apeguei-me à vontade de sobreviver. No entanto, a esperança frágil de que algum tipo de vida habitava aquela montanha começava a desvanecer-se em meu peito, que agora doía mais e mais.
O caminho enrodilhava-se na montanha; eu seguia por ele, à procura das pequenas almas que deixavam aqueles fracos choros escapar de seus pulmões. Com exceção das árvores e plantas, nada prosperava por ali. Foi então que algumas delas capturaram a minha atenção. Ao longe, eu via pontos brancos; eram de tamanhos diversos, dependurados em vários galhos. Sustentando-os, finíssimos fios, que brilhavam sob a luz pálida do sol poente. Cobrindo os galhos ressecados, uma espécie de teia, feita destes mesmos fios. Seduzida pela misteriosa beleza da cena, subi, aproximando-me.
Ao alcançar as árvores, notei que não se tratava de teias; ao longe, pareciam finíssimos fios de seda tecidos pela natureza. Observando-os mais de perto, notei que eles pareciam ser uma espécie de rede integrada entre os casulos. Por dentro deles, havia um líquido branco como leite, alimentando os casulos, ao que parecia; lembrei-me do sistema linfático das aulas de anatomia de Viktor. Segui com os olhos até onde um ia dar. Acabava em um casulo, como pensei. Afastei o algodão que os envolvia, eles eram translúcidos, e deslumbrei-me com o que vi. Um dedinho fino se movia. Era a mãozinha de um feto; estava vivo!
Aproximei meu rosto, prendendo a respiração. Meu espírito se inflou de súbito. Que espécie de vida era aquela? O casulo agitou-se ao tocá-lo. Era um feto que refazia a sua posição. Quando terminou, pude ver seu rostinho. Um sentimento de ternura apoderou-se de meu ser. Mas, simultaneamente, comecei a sentir uma tristeza alheia a mim. Meu coração foi repentinamente esmagado. Era confuso: uma saudade chorosa de algo — que eu não sabia dizer do que era — invadiu meu peito… Como se eu desejasse algo com todas as forças, mas fosse interrompida, impedida.
Movida pela curiosidade diante daquele ser, notei que uma única lágrima, negra como piche, escorria do olho do feto. A lágrima manchou o branco leitoso do casulo. Quando terminou de escorrer, saindo do casulo, se desfez no ar. Então voltei a respirar sobressaltada.
Vencida pela ânsia científica, toquei-o novamente. O feto pareceu reagir, movendo-se delicadamente. Na segunda vez, escutei um som de tecido molhado. Lembrei-me do som que os cadáveres faziam quando eu os partia em pedaços, para poder levá-los em sacos de lixo. Seu casulo reluzia à luz quente dos últimos raios daquele dia. Admirei-o. Poderia dizer que éramos íntimos. Não… Era outra coisa, algo mais grandioso, visceral, antigo, primitivo… Éramos mãe e filho. Era isto que me fazia querer abraçá-lo. Afastei a minha mão. Outra lágrima escorreu, como se o bebê se ressentisse do meu distanciamento.
Notei algo estranho em mim. A agonia de uma saudade profunda invadiu-me. Junto a ela, a pressão no peito novamente, consegui tocar meu rosto… Uma lágrima escorria e molhou meu dedo. Depois desta primeira lágrima, muitas outras vieram. Murmúrios uterinos se multiplicavam. Até mesmo choros infantis se misturavam a eles. Horrorizada com aquilo, decidi fugir. Apesar do fascínio que aqueles fetos de algodão exerciam sobre mim, fui impelida a fugir. Minhas pernas se moveram, antes que eu pudesse comandá-las. A fúria dos sentimentos, contra o instinto de sobrevivência. Fora um lampejo de consciência. Eu sabia que devia fugir. Eu sofria por deixá-los, belos e inocentes. Agora, quase nenhuma luz os iluminava. Em breve, receberiam o abraço de prata dos raios lunares.
Continuei a subir, perturbada pelo que tinha visto. Apertei o passo, fugindo daqueles sentimentos torturantes. Continuei por cerca de vinte minutos. Eu juro que podia sentir meus pulmões ardendo pelo esforço.
Apesar disso, eu precisava avançar. Quanto antes chegasse em Séttimor, antes conseguiria a erva do descanso. Eu precisava daquela erva para deter o que Eleanor me fizera; ou talvez o que eu precisasse mesmo fosse do abraço sombrio da morte. Não! Desistir não era uma opção! Não iria me entregar. Depois de tudo o que eu passara nas garras de Viktor, eu não iria simplesmente desaparecer. Precisava voltar à Prússia: lugar que agora me parecia cada vez mais distante.
Desacelerei. Só então percebi que estava em uma parte mais densa da floresta. Estava quase escuro; meus olhos se ajustavam vagarosamente. Então pude escutar, ao longe, sons de galhos partindo-se. Estaquei, lembrando-me da criatura horrenda que Arale enfrentou. Poderia ser outro ser, mas igualmente perigoso. O chão da estrada parecia recentemente pisoteado.
Perdida nessas reflexões, reparei que um galho se movera atrás de mim. Virei-me e tive a impressão de ver um braço fino sumir atrás das folhagens. Então fugi. Mas não consegui correr mais do que cinco metros à frente; minhas pernas falhavam. Olhei para a trilha que eu acabara de vencer: eu estava só.
Sentei-me para recuperar o fôlego. Então eu vi. Atrás de alguns arbustos, três pequenos seres vinham subindo a trilha, mas tentavam esconder-se. Crianças. Julguei que fossem, pela estatura. Mas não tive certeza, pois seus olhos eram brancos; não havia pupilas, nem íris. Paravam de tempos em tempos para cochichar. Uma delas fez menção de aproximar-se, mas outra a impediu, segurando-a pelo ombro.
Novamente aquele peso no peito… Amaldiçoei meu destino, mas seria possível? Que toda criatura viva desta montanha estaria amaldiçoada com essa tristeza saudosa de tudo aquilo que não floresceu?
Então a terceira criança cruzou a barreira dos arbustos. Permaneci imóvel. Ela vinha em minha direção; um de seus braços estava estendido. O dedo pálido como o de um cadáver, em riste. Toda a sua pele era assim; seu corpo estava quase todo desnudo. Era um menino. Cabelos longos e desgrenhados moveram-se com a sua cabeça, a qual se inclinava curiosa. Ele parou para ajeitar a tanga, única peça que trajava.
Chegou muito próximo e movia-se como um símio, ora para frente, ora para trás. Quando bem próximo, eu fui invadida por outros sentimentos. Era um calor interno, de alma. Então uma memória atravessou meu cérebro, tão fugaz quanto nítida. Eu vi uma roda de hominídeos; ao centro, uma chama; estávamos sentados. Pisquei. Não os vi mais, apenas aquele ser à minha frente.
Foi como antes. A proximidade dele despertou em mim visões alheias. Eu enxergava por ele. Não era apenas isso — eu estava dentro do que ele lembrava. As roupas daqueles homens primitivos pareciam-se com as dele. Pertenciam a um passado muito distante, séculos antes de eu nascer, quando o homem acabava de inventar o fogo. Sim, pude sentir a paz de ser protegida por ele. Tudo se parecia com as noites em frente à lareira que dividi com papai.
Eu apreciei a valiosa sensação de estar segura. No entanto, afastei-me. Era necessário, era premente… Então, descansada, pude retomar a minha caminhada em direção ao cume. Séttimor aguardava-me. A estrada continuava montanha acima. Estava mais íngreme, menos pavimentada. Meus pés faziam pedriscos deslizarem, e utilizei-me de raízes expostas para agarrar-me. Logo avistei, mais adiante, que a trilha estava rompida. Um deslizamento de terra. Do outro lado do abismo estreito que ele formara, pude ver, iluminada pela luz da lua, a erva do descanso.
Pensei em apenas esticar minhas pernas, torcendo para serem suficientes para alcançar o outro lado. Por uma minúscula diferença, isso seria improvável. Era arriscado. Então eu soube que saltaria. Aproximei-me da borda, testei-a com os pés; pedras rolaram até o fundo. Não escutei o som delas batendo lá embaixo. Inspirei, profunda e conscientemente.
De ré, fui afastando-me do abismo. Iniciei uma corrida — minhas costas gelaram — antes de saltar. Flexionei os quadris e… senti como se algo em minhas espáduas tivesse se rompido. Não houve som algum, mas a sensação era vivaz! Aterrissei do outro lado, e lá estava ela: a erva do descanso. Era linda! Não me contive diante da beleza; arranquei-a e macerei com raízes e tudo. Apliquei a pasta em meu pescoço e colo. Um toque gelado como o da morte espalhou-se por todo o meu corpo. Eu estava tão fria quanto um cadáver — e aliviada.
O alívio se desfez ao virar da curva. Do outro lado do abismo, onde eu acabara de estar, uma luz dourada rasgou o véu escuro da noite. Um som cadenciado e vagaroso rompeu o silêncio. Eram cascos de cavalo. Eu o vi. Estava longe; surgiu por entre a bruma noturna. Era um daqueles alazões que cruzaram meu caminho. O mesmo do cocheiro na floresta dos Pinheiros Tristes.
Apertei as mãos. Senti as batidas do meu coração acelerarem. Mesmo sentada, recuei. Meus olhos percorreram o caminho das patas ao lombo do animal, instintivamente. Então eu vi uma figura imponente sobre ele. Trajava um jaleco branco.
Acho que senti o sangue correr de minha face:
— Quem é você?
O alazão não avançou. Permaneceu imóvel à beira do abismo, como se a própria noite o mantivesse suspenso. Então relinchou — um som oco, espectral, que não parecia pertencer a um animal vivo. O cavaleiro apertou as rédeas com lentidão deliberada. Seu rosto não se deixava ver: era apenas um borrão instável, dissolvido na névoa.
Levei a mão ao rosto. Minha pele ardia, embora eu estivesse fria por dentro. O coração batia fora de compasso, e ainda assim eu não conseguia me mover.
Foi então que a frase retornou, intacta, como sempre retornava. Não como lembrança, mas como marca. Ferro em brasa pressionado contra a carne da memória.
“Há coisas que só podem ser aprendidas na hora certa.”
Ele dizia isso com calma. Com paciência. Como quem não avisa — apenas espera.
E, ao encarar aquela presença imóvel do outro lado do abismo, compreendi, com um terror mudo, que talvez aquela fosse a hora.
Revisado por Sahra Melihssa As Últimas Rosas Vivas de Séttimor
As Últimas Rosas Vivas de Séttimor
Mergulhe em um mundo suspenso entre a morte e o delírio. Sibila desperta em um castelo cercado por campos de lavanda e vozes sussurrantes, sem saber como chegou ali, tem apenas a certeza de que matou Viktor Frankenstein. Mas naquela terra onde o tempo se desfaz e os mortos sussurram, certezas são as primeiras a apodrecer. Inspirado no universo de Frankenstein, este romance gótico reinventa personagens clássicos que desafiaram a morte e pagaram o preço. » Leia todos os capítulos.

Aryane Braun
Aryane Braun é curitibana por nascimento, amor e dor. Formou-se em Letras pela UFPR e possui duas graduações na área da educação. Atualmente, trabalha em uma biblioteca de um colégio público em Curitiba e adora o que faz, pois ama o ambiente que os locais de ensino proporcionam. Afinal, que lugar melhor para trabalhar do que uma biblioteca para alguém que sempre gostou de literatura, antes mesmo de compreender o que ela representa em seu intelecto?... » leia mais
 20ª Edição: Revista Castelo Drácula®
20ª Edição: Revista Castelo Drácula®
Esta obra foi publicada e registrada na 20ª Edição da Revista Castelo Drácula®, datada de fevereiro de 2026. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula®. Todos os direitos reservados ©. » Visite a Edição completa
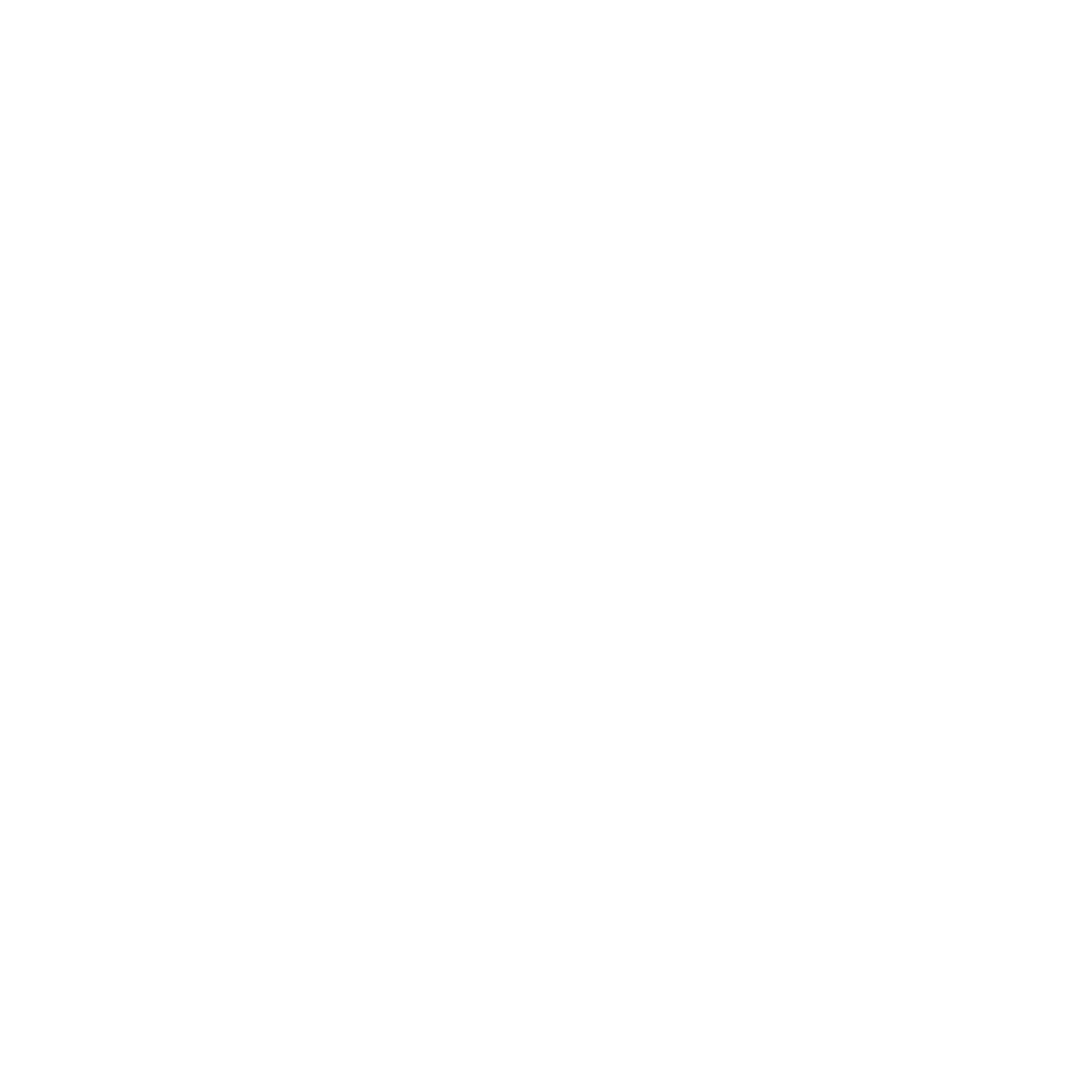




Sou última nascida em sangue e cinzas | Carrego a carapaça de osso e fúria, | Amálgama d’outrora em boas-vindas | À Vila Séttimor em sua lamúria;…