24. A tua fé te salvou
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
Diário de Rute Fasano
Data incerta – Saímos da caverna em silêncio, como alguém que abandona um templo. Siehiffar nos acompanhou até a saída, onde a floresta retornava. Ela me olhou com carinho e me abraçou. Senti uma pontada de pesar nos olhos dela, mas foi à Mara que ela entregou algo: um manto escuro e grosso. Um manto para protegê-la ou ocultá-la? Eu não sabia dizer. Ela apenas o vestiu, e imagino eu que só aceitou o presente por ser algo que o destino lhe dava.
— O lugar para onde vocês vão não é bom chamar a atenção de muitos olhos — ela disse, puxando o capuz sobre o rosto translúcido de Mara. — Mas quem caminha pela fé em algo, ainda que rachada, é visto mesmo no escuro.
Então partimos e caminhamos por muito tempo. Perdi a noção de quantas horas, pois o tempo se arrastava como um animal ferido. As árvores foram se tornando mais tortas, mais silenciosas, e a vegetação, rasteira. O céu, com nuvens paradas, opacas, cinzentas — nem uma cor vibrante podia ser vista.
E então chegamos a um lugar que não era Séttimor e também não era um vilarejo como os outros. Era uma extensão de alguma civilização que não deveria existir ali, mas existia. Havia casas em ruínas, outras eretas e bem conservadas, outras com janelas fechadas com tábuas e portas entreabertas. Havia névoa, muita névoa, espessa e úmida, e eu sentia um cheiro de cabra, sangue seco e metal oxidado.
Logo à frente vimos uma mulher de manto negro, com um capuz que cobria quase todo o seu rosto, exceto o queixo e os lábios. Carregava um cajado que parecia de carvalho. Atrás dela, tinha um pequeno rebanho de cabras negras, que nos observavam curiosas e em silêncio.
— Vocês não são daqui — disse ela sem emoção quando nos aproximamos, confirmando o óbvio.
— Estamos procurando o caminho para o castelo — falei. Mara manteve o rosto abaixado e coberto.
— O castelo está em todos os lugares e também não está em lugar nenhum. Vocês sabem disso, mas estão fingindo que não sabem, não é?
Eu sentia que ela não iria nos ajudar, mas precisava saber mais sobre o lugar em que estávamos.
— Que lugar é esse em que estamos? — perguntei.
— É o que resta de uma fé esquecida, daqueles que um dia buscavam a luz e encontraram a escuridão, a mesma escuridão que vocês encontraram.
— Só precisamos que nos mostre a direção e sairemos do seu caminho — disse Mara, impaciente.
A mulher não respondeu. As cabras começaram a berrar, como se estivessem chamando a atenção para algo, e então uma delas se aproximou de nós, e os olhos dela eram quase humanos.
— Continuem pela trilha — ela disse, e por um momento achei que era a cabra que falava. — Mas não toquem nas portas, nem respondam aos sussurros, a menos que gostem de distração.
— E você, quem é? — perguntei.
— E isso importa? Não é a mim que procuram — ela disse, e depois nos virou as costas e caminhou para longe, sendo acompanhada pelo seu rebanho.
Seguimos pela trilha, ouvindo o som dos nossos passos. Atrás de nós, o berrar das cabras, um céu escuro e opaco, e, muito ao longe, uma música, como se alguém tocasse para a nossa chegada. A trilha era estreita, coberta de folhas e galhos. Cada passo fazia o solo ranger, e me veio, não sei de onde, o pensamento de que estávamos pisando em ossos velhos, e aquele ar úmido tinha um forte gosto ferroso.
À medida que avançávamos, mais casas iam aparecendo. Mara caminhava em silêncio, o manto escondendo seu rosto, mas as pessoas que nos observavam em suas casas pareciam perceber a sua diferença.
Vimos uma mulher acompanhada de uma criança. Estavam paradas perto de uma cerca derrubada. A mulher vestia um vestido marfim encardido e os cabelos muito claros presos em um coque. Nos braços, uma menina de olhos bem abertos e perdidos no nada chupava o dedo sujo de terra.
— Boa tarde — eu disse sem ter certeza se realmente era tarde.
A mulher não respondeu de imediato, ajeitou a menina no colo e me olhou com aqueles olhos fundos, que não eram tristes, mas pareciam olhos que não descansavam fazia dias. Olhos que viram mais do que deveriam. Não sabia dizer se eram olhos alertas ou assustados.
— Onde estamos? — perguntei.
— Vocês estão onde sempre estiveram — ela respondeu com voz baixa e apática. — Nos domínios do castelo Drácula. Tudo isso é parte do castelo: a estrada, a névoa, as casas, cada pedra, árvore e cada animal. O castelo não é só feito de pedras e torres, sabia?
— Mas o castelo mesmo, onde está? — Mara falou, mostrando o quanto estava impaciente.
— Continuem, sigam a trilha que inevitavelmente vocês chegarão lá.
A menina no colo da mulher parou de chupar o dedo e olhou direto para nós, e seus olhos agora eram vermelhos.
— Ele está com saudades de vocês — ela disse com uma voz que não parecia de uma criança pequena.
Senti um frio no estômago. Mara deu um passo à frente, pegando no meu braço.
— Vamos — disse ela, firme.
A mulher e a criança apenas sorriram, nos seguindo com os olhos até sairmos na névoa.
— Vocês estão mais perto dele do que pensam — ela disse, ainda sorrindo.
A trilha começava a subir, se tornando mais íngreme, e a floresta ao nosso redor parecia se calar, como se estivesse segurando a respiração. Havia algumas árvores mortas, mas nenhuma delas estava caída. Seus galhos ainda pareciam avançar em direção àquele céu opaco. O solo tinha um cheiro de umidade antiga e, em alguns momentos, eu podia jurar que tinha visto silhuetas correndo entre as árvores. Formas humanas demais para serem confundidas com animais, distantes demais para se ter uma certeza do que eram.
O céu permaneceu o mesmo por quilômetros: cinzento, opaco e cheio de neblina. Depois de horas — ou talvez dias, não havia como eu saber com exatidão — a trilha se abriu e a névoa cedeu um pouco quando chegamos a uma pequena elevação. E de lá vimos outro vilarejo. Casas coladas umas às outras, com telhados cobertos de líquen. Cada rua como uma veia estreita que conduzia a mais casas. Havia roupas estendidas, crianças correndo de um lado a outro, vasos de flores — alguns secos — e incensos, muito incenso.
Mara puxou mais um pouco o capuz, pois sua aparência a traía.
— Não é possível que isso também seja parte do castelo — eu disse, mais para mim mesma do que para ela.
Mas ela assentiu, levantando a cabeça para olhar o topo de uma casa. Continuamos andando em silêncio. O vilarejo não estava abandonado, havia pessoas lá vivendo suas vidas, indo e vindo sem se dar conta de nossa presença. Outros poucos paravam e nos olhavam com estranheza, mas logo continuavam seu caminho.
E então o sino tocou. Um som oco e lento por três vezes, e, após o terceiro badalar, mais portas começaram a abrir e mais pessoas saíram de suas casas, enchendo as ruas. Mara segurou minha mão e, pela primeira vez desde que essa nossa aventura começou, eu senti que ela tremia. E, por algum motivo, eu achava que isso tinha algo a ver com o sonho que ela teve na caverna, ao qual ela não me revelou.
O centro do vilarejo tinha uma grande construção circular de pedra escura. Esculpido em cima do portal estavam as palavras em latim “Dominatio per Consanguinitatem” — domínio por consanguinidade ou coisa parecida. A porta estava aberta e de lá saía um cheiro doce de sangue. Todas as pessoas iam em direção àquela construção.
Uma mulher, um pouco mais jovem do que a maioria ali, se aproximou de nós. Usava um véu de um vermelho carmesim e um livro de couro preso à cintura. Seus olhos pareciam acolhedores, mas seus movimentos eram ensaiados demais.
— O senhor está acordado esta noite, e ele quer se divertir — ela disse.
— Qual senhor? — perguntei.
Ela não respondeu, apenas indicou a entrada com a cabeça.
— Se chegaram até aqui foi porque ele quis. Então entrem e participem da diversão, antes de continuarem seu caminho.
Quando me dei conta, já estávamos entrando junto com a multidão que esperava na entrada. Uma mulher de voz rouca, vestindo um vestido feito de panos e véus costurados um ao outro, nos recebeu com uma leve reverência.
— Entrem, entrem, a peça está prestes a começar — disse ela. — Tomem seus lugares.
Não perguntei do que se tratava a peça. A verdade é que havia algo em mim que já desconfiava que não seria algo que eu teria escolha em assistir ou não, então não adiantaria nada perguntar.
O interior era uma mistura de teatro e catedral, com bancos dispostos em semicírculo e grandes vitrais escuros de vidro vermelho e âmbar, e um palco ornamentado com bordas entalhadas em dourado, alto e fundo. Ao fundo, um órgão podia ser ouvido, bem sutil.
Um homem encapuzado se aproximou de nós. Em suas mãos tinha um objeto que logo reconheci como sendo um caleidoscópio — um tubo antigo de prata desgastada, com inscrições em volta que pareciam algo como o hebraico ou uma língua desconhecida. Ele estendeu o artefato e perguntou:
— Querem olhar? Observem, antes da peça, assim reconhecerão o ato — ele falou, oferecendo o objeto a mim, pois Mara se recusou a pegá-lo. Como ela não se opôs a que eu pegasse, aceitei o artefato.
Peguei o objeto, aproximei os olhos e a primeira imagem estava confusa — cores girando, vidros coloridos estilhaçados e formas abstratas — mas logo as imagens se organizaram e então eu vi. Ou melhor, eu me vi, ali no palco: eu chegando ao castelo, eu hesitando, dançando no baile de máscaras, chorando por Hadassa, conversando com Ameritt e Monm, falando com Mara, abrindo um diário, gritando para espelhos, segurando um cálice, me afogando e correndo e, então, eu observava a mim mesma com o caleidoscópio nos olhos.
Quase deixei o caleidoscópio cair, mas o homem o pegou, como se já esperasse a minha fraqueza depois de ver tudo aquilo.
— Tudo que foi visto, será encenado. É a lei do palco, é a única lei que aqui dentro obedecemos. — Ela falou isso e andou em direção ao palco.
Fomos conduzidas aos bancos de frente ao palco. A plateia cochichava, esperando o espetáculo começar. Todos pareciam ansiosos.
Uma voz feminina, grossa e alta, veio do palco, como se estivesse vindo do teto:
“Nesta peça, as visitantes reencontrarão a perda. Nesta peça, a alma se tornará carne. Nesta peça, nenhuma palavra será mentira.”
As cortinas pesadas, as luzes mortiças presas nas alturas, o som do órgão que produzia uma música densa, lenta e lacrimosa, a plateia com seus rostos apreensivos, ansiosos pelo que iria ser representado no palco.
Acho que toda a perda de memória começou com o caleidoscópio — aquele objeto simples que, quando toquei, arrancou sutilmente minhas lembranças sem que eu nem percebesse. Esqueci meu nome, minha história, minha dor. Me esqueci de tudo, e nada me fez falta.
A peça começou. No palco, uma mulher surgiu. Caminhava rápido demais, falava de menos, fazia escolhas bastante equivocadas, olhava com desconfiança para tudo e todos e carregava uma tristeza profunda e um ceticismo extremo nos olhos cansados.
Eu não sabia quem era ela, mas odiei cada escolha que ela fazia — ou deixava de fazer. Então, a cada ato, minhas memórias iam voltando, e percebi que ela era eu. Minha vida estava sendo encenada de trás para frente. E eu, sentada na poltrona, só conseguia criticar tudo.
Por que essa mulher — eu, no caso — se deixava ser engolida por aquilo tudo? Por que negava tudo? Por que se prendia tanto à lógica e à razão, se o mundo que agora a cercava era feito de delírios, criaturas inomináveis, fé e horror?
“Burra”, pensei — e logo calei esse pensamento, pois senti a dor do julgamento se voltando contra mim.
O teatro continuou a voltar mais e mais, até antes de Mara se tornar a criatura translúcida. Ali, naquele ponto da peça, algo mudou. A personagem — a outra eu — não encenava mais minhas lembranças. Ela impediu Mara de tocar o livro. A impediu de continuar o ritual, e, com isso, Mara não se desfez. Ela não se tornou aquela criatura translúcida. Na peça, ela permaneceu humana.
E a peça terminou.
A plateia aplaudiu, e uma figura em particular se levantou: Drácula, terrível e majestoso. Ele subiu ao palco, agradecendo os aplausos com uma sutil reverência. Ele me olhou — não a personagem, mas a eu sentada ali, presenciando aquele final de peça que não fazia sentido. Então voltou seus olhos a Mara e a chamou para o palco. E ela foi sem hesitar, ficando de frente a ele, que tirou o manto que ela usava, mostrando a pele translúcida que parecia feita com luz da lua.
E então eu senti como se tivesse sido arrancada de mim. Um ar espesso começou a sair da boca de Drácula e envolveu Mara, que estava diante dele, desaparecendo lentamente. Sua pele se tornou tão translúcida como vidro que eu podia ver Drácula através dela — ver as luzes e o próprio palco. Ela estava se desfazendo diante dos meus olhos e eu não podia fazer nada, pois estava presa à poltrona. Eu só podia vê-la sumir diante dos meus olhos.
Aquele ar espesso que saía da boca dele parecia aquecer aos poucos e começou a tomar forma. Os ossos de Mara — primeiro a espinha, depois as costelas, as pernas e braços — eram como algo se montando pedaço por pedaço.
Ele se aproximou mais dela. Seus lábios, antes distantes, agora tocavam o crânio recém-formado dela, e seus dedos afundavam na carne que começava a se formar. Mara gritava de dor, um grito abafado pelos lábios de Drácula — um som tão angustiante que parecia que sua alma estava sendo costurada à carne, e acredito que era isso que estava acontecendo. Veias, nervos, músculos, órgãos — eu via tudo: sangue fluindo, músculos formando e carne.
Os dedos de Drácula, ainda cravados no crânio dela, agora envoltos em carne e cabelo, formavam um contraste tão íntimo e brutal que não consegui conter o horror que se apossou de mim.
Ele então a deitou no chão, ajoelhou ao lado dela — que o olhava apavorada — e sussurrou algo no seu ouvido que eu não pude escutar, mas que a fez estremecer. Ele então olhou para mim, como se estivesse verificando se eu estava olhando, e depois voltou o olhar a Mara com um sorriso terrível e disse:
— Vá, minha filha, a tua fé te salvou. — Deu um beijo na testa de Mara e se levantou.
Depois desceu do palco e sumiu na multidão antes que eu pudesse ir atrás dele.
A plateia agora aplaudia de pé, pessoas emocionadas com o que tinha acontecido naquele palco. Mara permaneceu no chão por um tempo. Respirava. Estava viva, em carne e osso. Mas ainda assim, algo me dizia que não era só ela ali.
Depois que consegui me levantar, fui até ela. A abracei, sem saber ao certo o motivo de ter feito isso. A cobri com o manto novamente e saímos dali, acompanhadas pelos aplausos da plateia — que, ainda emocionada, continuava a aplaudir. Mas, por mais que nós não estivéssemos mais no palco, eu ainda me sentia dentro da peça.
Revisão por Sahra Melihssa Castelo Vampírico
Castelo Vampírico
Entre as paredes sinistras do Castelo Drácula, Rute Fasano registra em seu diário as angústias de uma alma consumida pela perda e pela culpa. Assombrada por memórias que recusam o descanso eterno, ela mergulha em abismos existenciais enquanto busca sentido numa fé já desfeita. Para Rute, a única certeza parece repousar na própria morte ou, talvez, numa reversão obscura dela. Seu relato é um testemunho de saudade e consequências, onde a linha entre a vida e o fim torna-se tênue como um último suspiro. » Leia todos os capítulos.

Valesca Afrodite
Valesca nasceu no Rio de Janeiro (RJ), formada em Ciências Biológicas, encontra-se no último período. Tem paixão por ciências, subcultura gótica, livros, seres sobrenaturais, ficção científica, cemitérios, igrejas e morcegos, ela também é voluntária em um projeto de divulgação científica chamado "Morcegos na Praça". Escrevia com frequência, mas afastou-se da prática ao... » leia mais
 18ª Edição: Theattro - Revista Castelo Drácula
18ª Edição: Theattro - Revista Castelo Drácula
Esta obra foi publicada e registrada na 18ª Edição da Revista Castelo Drácula, datada de agosto de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula. © Todos os direitos reservados. » Visite a Edição completa
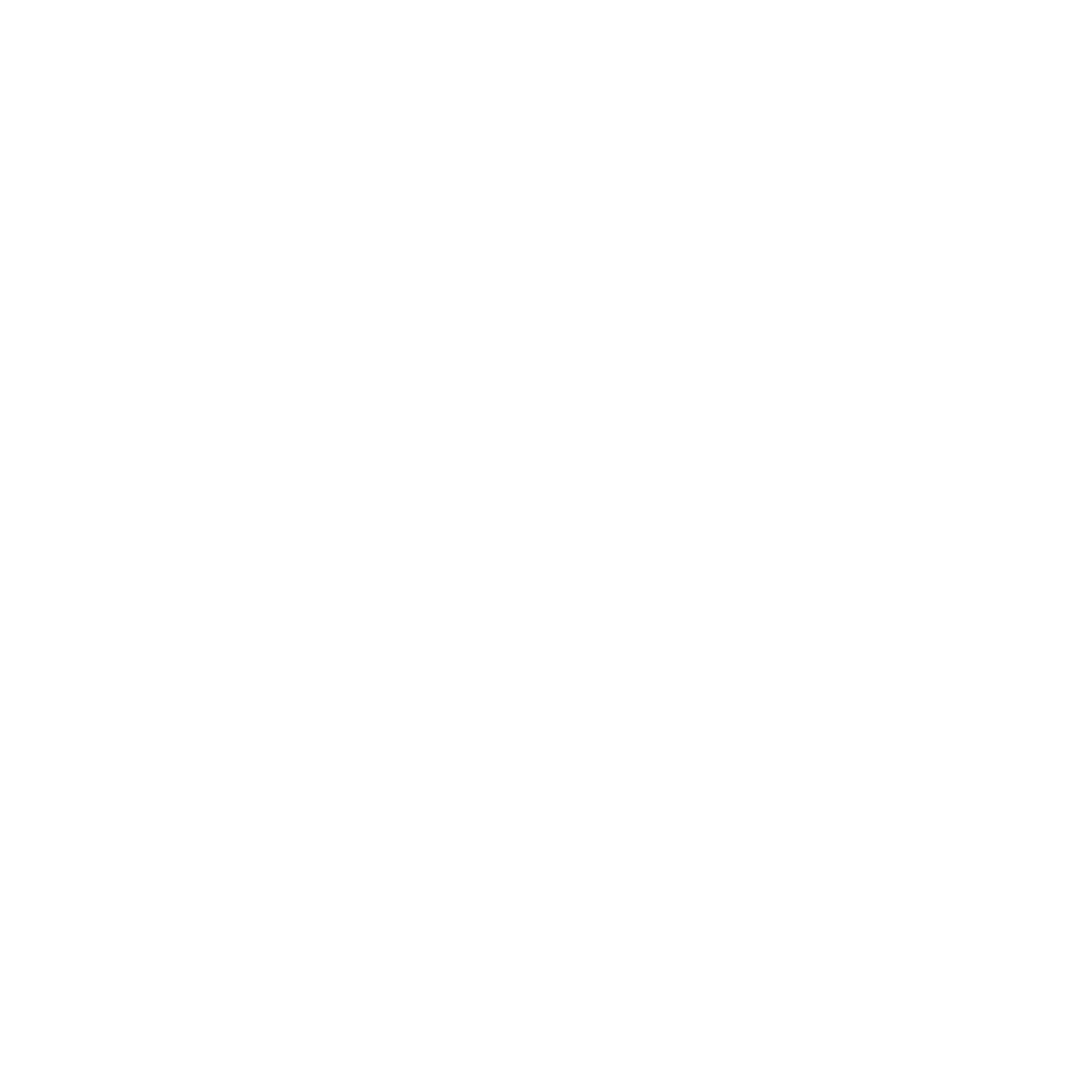




Diário de Sibila von Lichenstein. (Sem data - que dia é hoje?) A partida de Arale deixou um vazio em meu interior. Era curioso — talvez até contraditório…