A Partitura de Cânfora e Pó: Um Réquiem em Séttimor
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
A umidade em São Cipriano das Almas não era meramente climática; era uma saliva antiga, uma exsudação da própria história que lambia as paredes do sobrado, fazendo brotar mofo sobre o papel de parede inglês adamascado. O luxo europeu descolava-se como pele necrosada após uma febre tropical.
Eulália Valeriana de Alcântara repousava diante da escrivaninha de jacarandá — madeira de lei, escura e densa como a noite brasileira, cujos pés eram garras de leões entalhadas, cravadas no assoalho que gemia sob o peso do silêncio. Lá fora, a tempestade não caía; ela desabava. A chuva açoitava as telhas coloniais com a violência de um castigo bíblico, uma percussão líquida que tentava, em vão, abafar os sinos da matriz. Eles dobravam, roucos e insistentes, anunciando um óbito que Eulália, em sua névoa mental, não conseguia recordar de quem era.
Ela ajustou a gola de renda negra vitoriana que lhe estrangulava o pescoço, engomada até a rigidez de um osso. O luto era sua segunda derme, uma armadura de tafetá e crinolina, embora a razão das lágrimas lhe escapasse. Sentia o vazio fantasmagórico a corroê-la do âmago à pele, uma sensação vertiginosa de que suas vísceras haviam sido substituídas por neblina fria e pó de marfim.
— Escreve o que a morte sussurra — soprou a intuição perturbadora, uma voz que não vibrava no ar, mas arranhava o interior de sua medula.
Sua mão direita, pálida como a cera de um círio pascal, segurava a pena de ganso. O tinteiro de cristal repousava ali, cheio de um líquido espesso, negro como sangue venoso coagulado ou o café forte esquecido na xícara fria. Eulália, a dama respeitável, a psicógrafa que consolava as matronas do Império, a ponte entre os vivos e os tísicos, estava sozinha. Naquela noite, a casa não abrigava clientes, apenas a respiração asmática da madeira dilatando e a presença daquilo que não tem nome, mas tem cheiro: uma mistura adocicada de gardênias passadas e formol.
A mão ganhou vida própria. Não era a caligrafia desenhada, aristocrática, que as freiras lhe impuseram. Eram espasmos, cortes violentos, fissuras de morte e vida rasgando a fibra do papel.
“Aqui o tempo não passa, Eulália... ele apodrece,” a mão grafou, a tinta espirrando como uma artéria rompida.
Ela tentou parar, mas seus dedos eram marionetes de fios invisíveis. O espiritismo, discutido nos salões afrancesados da Corte, era consolo e ciência. Mas ali, isolada na serrania, cercada pela mata atlântica que engolia civilizações, o espiritismo parecia uma autópsia da alma a céu aberto.
“Olhe para o espelho, Valeriana. O véu de Maya rasgou-se.”
No canto do quarto, o grande espelho oval de moldura dourada repousava, coberto por um lençol de linho branco — a mortalha exigida pela superstição, para evitar que a alma do recém-falecido ficasse presa no azougue do reflexo. O medo silencioso subiu por sua garganta, trazendo um sabor metálico de pregos velhos e terra molhada.
Ela ergueu-se. O som de suas anáguas de seda roçando no chão soou como o suspiro coletivo de mil viúvas em procissão.
— Quem profana este luto? — indagou ela à penumbra.
Os candelabros de prata tremeluziram, projetando sombras que se esticavam nas paredes como espectros famintos, dançando uma valsa muda. Ninguém respondeu. Apenas a chuva e o tique-taque de um relógio que parecia contar segundos de uma eternidade errada. Eulália aproximou-se do espelho. Seus dedos, trêmulos, tocaram a trama fria do linho.
Com um puxão brusco, a mortalha caiu, levantando uma poeira que cheirava a séculos trancados.
Eulália preparou-se para o horror. Esperava ver um demônio de chifres, ou talvez a aparição de seu pai com a mandíbula atada.
Mas o horror foi a ausência. O absoluto e terrível nada.
O espelho refletia o quarto com precisão cirúrgica: a cama de dossel com suas cortinas pesadas, a escrivaninha de jacarandá, a chuva chorando na vidraça. Mas não refletia Eulália.
Onde deveria estar seu corpo, seu vestido negro, seu camafeu de ônix, havia apenas uma mancha turva, uma vibração no ar, como o calor tremulando sobre o asfalto ao meio-dia ou a poeira dançando num raio de lua. Um borrão na realidade.
Ela olhou para suas próprias mãos. Elas estavam lá, segurando o tecido. Ela sentia o tato áspero. Mas o espelho, aquele juiz implacável da existência, decretava sua anulação.
— Eu respiro! Eu sinto! — ela gritou, mas o som saiu abafado, rouco, como se ela gritasse de dentro de um caixão de chumbo, sob sete palmos de terra vermelha e barrenta.
Correu de volta para a carta psicografada, tropeçando na própria inexistência. As letras agora brilhavam com uma umidade fresca, pulsante. Ela leu o veredito final que sua própria mão escrevera, ditada por uma memória que retornava para assombrar, cruel e verdadeira.
“Bem-vinda a Séttimor, minha querida. Onde os mortos vivem sem se lembrar de que o coração parou na última terça-feira de cinzas. Os sinos dobram por ti, Eulália. Tu esperas pelo médico que nunca virá, pois ele já assinou teu óbito. Tu és a assombração que temes. Tu és a memória que se recusa a ir embora, a mancha de umidade que a casa não consegue secar.”
Uma tristeza multiforme, pesada como a lápide de mármore carrara, esmagou seu peito. A lembrança rompeu a represa do esquecimento: o gosto de ferro na boca, a febre tifoide, o padre murmurando a extrema-unção em latim, o cheiro enjoativo de cânfora e cera derretida.
Ela não era a médium. Ela era a mensagem.
Olhou para suas mãos novamente. As pontas dos dedos começavam a ficar translúcidas, a cor da pele dissolvendo-se em cinza, fundindo-se com a névoa que invadia pelas frestas da janela podre. Ela estava se apagando, tornando-se natureza fantasmagórica, diluindo-se na atmosfera de Séttimor.
Sentou-se ao piano Pleyel que dormia no canto, um monstro de madeira e cordas que ela não tocava há meses. Seus dedos, agora quase feitos de fumaça, pousaram sobre as teclas de marfim amarelado.
Ela não tocou para os vivos de São Cipriano das Almas. Tocou para si mesma, um Noturno dissonante, tentando segurar a própria existência em cada acorde menor, ancorando sua alma na música antes que o esquecimento final a transformasse apenas em uma corrente de ar frio no corredor daquele velho casarão brasileiro.
E lá fora, a chuva continuava a lavar o mundo, indiferente à mulher que, nota por nota, desaparecia na partitura eterna do silêncio.
Revisado por Sahra Melihssa
Bruno Reallyme
Bruno Silva, conhecido como Bruno Reallyme, é um escritor com deficiência visual que encontrou na escrita a extensão de seu olhar sobre o mundo. Com formação em Ciências Econômicas, Contábeis e Gestão, ele navega por diversos gêneros, como poesia, romance, suspense e terror. Sua escrita busca a autenticidade e a identidade profunda do "reallyme" — "realmente eu" —, revelando em cada palavra um universo sensível, crítico e apaixonado por narrativas. » leia mais...
 20ª Edição: Revista Castelo Drácula®
20ª Edição: Revista Castelo Drácula®
Esta obra foi publicada e registrada na 20ª Edição da Revista Castelo Drácula®, datada de fevereiro de 2026. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula®. Todos os direitos reservados ©. » Visite a Edição completa
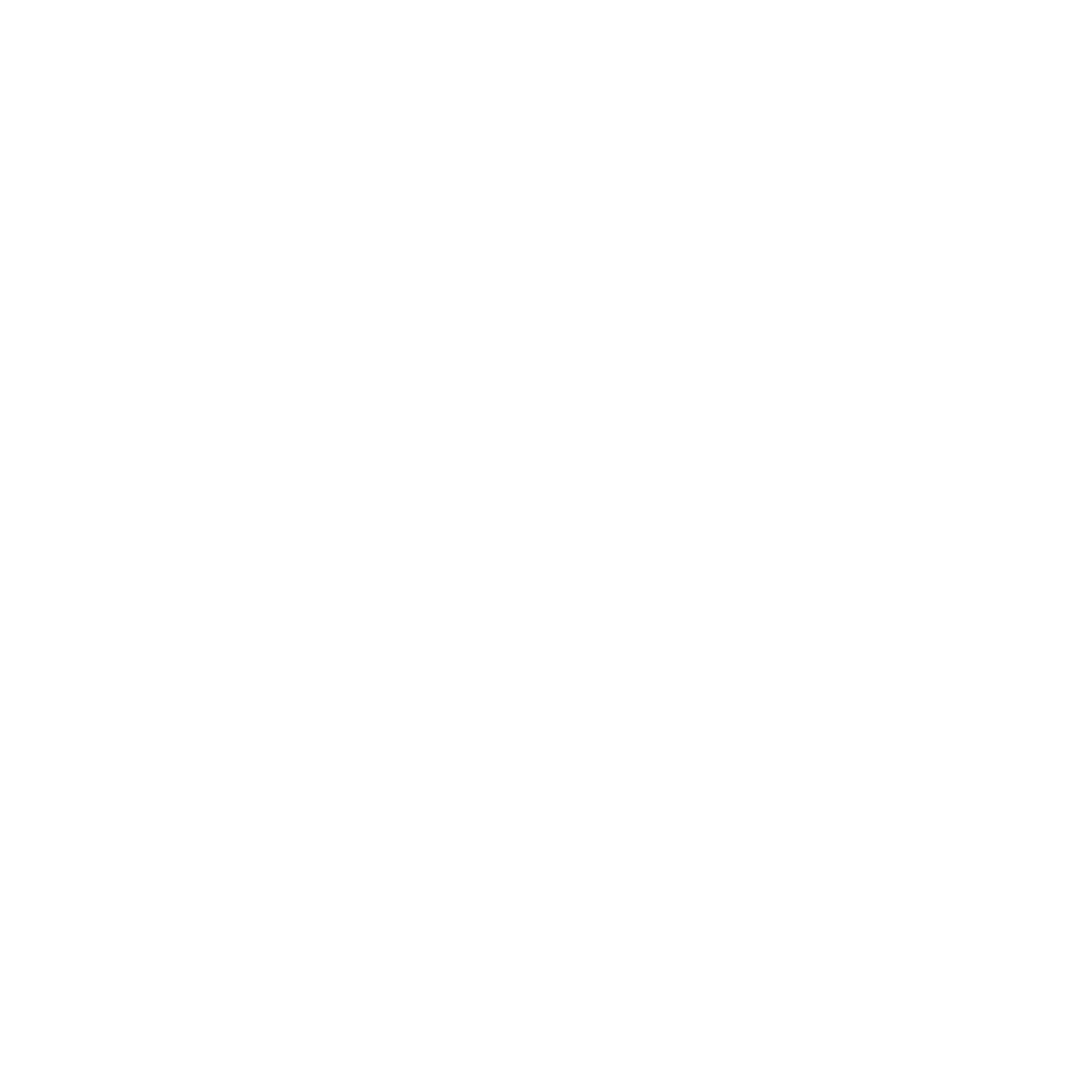



“Pelo menos esta torre é alta o suficiente para a queda acabar com essa loucura. Ao menos isso a névoa ainda não transforma”, murmurou Viktor Vatra para a noite…