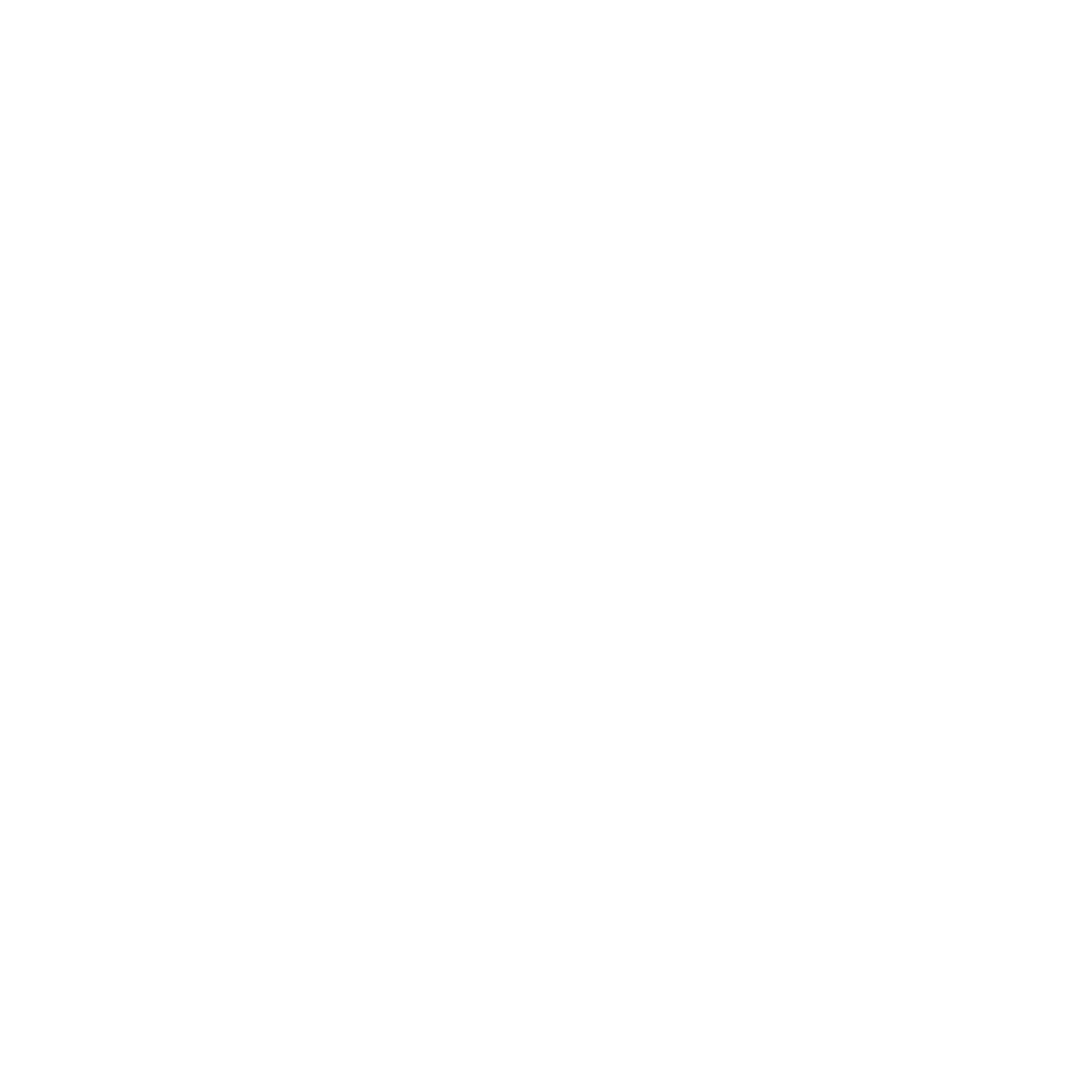Alice: No Denso Arvoredo
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
A densa floresta acastanhada, honrava um outono etéreo e silente. Uma atmosfera enevoada, do mesmo tom borgonha, pairava, porém, rarefeita, como um gás envenenado em tom alizarina e marsala. O céu era um deserto amarfinzado, aquecido com um malva envelhecido, quase abronzeado. A brisa contornava as folhas ressequidas e, mesmo caindo, muitas permaneciam em seus frondosos galhos, mostrando a grandeza imensurável do arvoredo, com copas gigantes e altas como um titã. Alice despertou sabendo quem ela era, entretanto, pouco depois, quando ergueu seus olhos à paisagem, turvou-se na sublime apreciação amedrontadora e, então, se esqueceu.
A grama terracotta, pó de flor emurchecida, parecia abraçar intencionalmente os pés descalços de Alice; conforme ela se movimentava, lentamente a relva a envolvia. “Não… não consigo me lembrar… como posso estar aqui? O que é este lugar?” — Sussurrara quando seus olhos pousaram no horizonte pálido e no oceano que, brando, parecia enegrecido. Sob a guarda de um céu rosa-empoeirado e sob um sol vermelho-pastel, Alice tentava entender a razão pela qual ela estava ali, naquele longínquo e ameno oásis. Um grande veleiro parecia atracado na costa, onde mais havia areia do que relva; parecia perto, entretanto, estava embaçado à visão como uma miragem. O coração de Alice apertou-se de emoção por algo incompreendível, porém, de súbito, algo lhe chamou a atenção.
Um coelho branco de três olhos escarlate e corpo esguio, emergiu da frondejante floresta mastodôntica, enquanto a curiosa Alice o observava, percebeu que adentrar a floresta não só seria uma aventura, mas, talvez, um labirinto pernicioso. O coelho era um pouco mais alto que Alice e bem mais baixo que as copas de folhas vermelhas hexagonais. Ele parecia apressado, era bípede, embora encurvado em sua coluna; seus grandes dentes afiados eram terríficos e o pêlo macio, níveo e fino, era como a gramínea. A criatura saiu da floresta, cavoucou n’uma parte de terra úmida, onde a gramínea era frágil e, dali, retirou um relógio de bolso. Fugaz, adentrou à floresta em seguida — parecia não ter visto Alice.
A aparição de tal animal sinistro, embora assustadora, deu à Alice uma sensação de que a criatura tinha tanta pressa que, certamente, pouco se importava com intrusos iguais à Alice e, portanto, não lha faria mal. Além disso, a fez pressentir que, se é possível que o coelho de três olhos vermelhos saia do bosque colossal e para ele retorne quando bem entender, então, decerto, ela também poderia — em especial se seguisse o rastro do bicho. E assim o fez.
Como o coelho era alto, ao afastar os arbustos e pisar, finalmente, no bosque; ainda era possível enxergá-lo ao longe, pois, por seus passos tão fugazes, ele alcançava uma distância considerável em átimos de tempo. Suas brancas orelhas peludas se destacavam, em especial, por causa das cores outonais opacas e rúbidas de toda a floresta. Deste modo, Alice o acompanhava, porém, por infortúnio, a criatura era, de fato, muito mais rápida que ela e, em segundos, Alice viu-se no arbóreo denso, sem nenhum tipo de sentido para guiá-la. O coelho desaparecera. Os sons florestais eram brandos e as copas altíssimas, tanto que nem mesmo o céu era visto de baixo; Alice sentiu-se minúscula.
— Certo... quão estranho... continuo sem compreender! — Conversara consigo. — Algo me falta, no peito; como se meu coração pulsasse diferente ao qual pulsara desde que nasci... entretanto... como posso distinguir essa pulsação se nem me recordo onde nasci? Pareço não saber quem sou e, ao mesmo tempo, algo sou capaz de intuir... uma pena que esse algo não seja o caminho certo. — Alice olhou para o derredor, buscando o rastro do coelho sinistro. — Nenhum rastro, nem para retornar à costa, nem para seguir adiante... e o que é o “adiante” nesta vasta catedral perenifólia? Intrusa, eu mesma, em um labirinto de fauna e flora, sem nenhuma clareira, sem céu e estrelas que indiquem sul e norte... Parece-me que não sou necessária aqui... ouço pássaros, porém, nenhum pousa próximo; ouço criaturas indistinguíveis, contudo, cá estou, sozinha; nenhuma delas rasteja na gramínea que acolhe meus pés.
Alice estava sentada naquele instante enquanto se afogava em seus infindos pensamentos. E continuava: — Talvez, como intrusa, deva ser expulsa. Entretanto, ó, quão irrelevante eu sou que sequer faz diferença que eu cá esteja ou não. E se sou irrelevante para a vida entorno, por que vivo? Por que há vida em mim? Sem um sentido para caminhar no bosque titã, sem importância, sem valor... sabemos o valor que temos somente quando alguém nos diz, é isso! — Alice olhou para cima. — Alguém pode me dizer o sentido e o valor que eu tenho? — Gritou o mais alto que pôde. Seu brado causou algum alvoroço, porém, apenas para que um fruto, já muito maduro, vibrasse com as ondas sonoras e, então, caísse lá do alto da copa de alguma das árvores gigânticas. Demorou um pouco para cair ao lado de Alice e espatifar-se no chão, banhando-a com seu méleo caldo.
Alice assustou-se profundamente; suas roupas, pele e cabelos, mancharam-se de uma cor carmim-abismal e antes, pálidas como o Anti-Ártico, agora mesclavam-se em um escarlate-ferroso e bege. “Que horror!” — Bradara pelo susto. Sentiu-se instigada, entretanto, a experimentar o fruto, cujo aroma era embalsamado de dulçor cítrico. Assim o fez, embora se questionasse sobre tratar-se de um fruto venenoso. “Se assim o fosse” ela respondeu à sua própria pergunta “não seria realmente sedutor aos meus olhos, certo?” perguntou a si mesma.
— Se fosse um fruto perigoso, eu não seria cativada... a menos que o fruto fosse capaz de mentir... se assim o fosse, como o faria estando espatifado assim? Não vejo espinhos em sua casca, como os abacaxis. Na verdade, vejo lanugem, como um pêssego. Embora seja tão maior que um pêssego, na verdade, é maior do que minha cabeça! — Alice tocou com seu dedo indicador na carne do fruto espatifado e, logo, levou aos seus lábios. Era delicioso.
— Méleo... adorável... cítrico... suave... meio ameixa... meio caqui... meio...— Fechou seus olhos e apreciou um pouco mais. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. — Um rio? — Questionou à sua solidão. Alice ouviu algo como um rio ou uma cachoeira; águas correntes que outrora não havia prestado atenção, talvez porque estava demasiado dentro de si mesma. Só pelo som, sentiu-se com intensa sede. Levantou-se e caminhou em busca da fonte, uma nascente cristalina. E encontrou. Um riacho sutil embargava águas translúcidas, embora, com sutileza, enrubescidas pelos tons florestais; as águas cursavam um caminho tortuoso e, pelo seu rastro, pedras foram se formando ao longo de incontáveis anos.
— Tem gosto de água... — Dissera, sentando-se à beira do córrego. Respirou fundo enquanto ouvia a sinfonia líquida — Agora que comi o que me parecia comível e bebi o que bebível me soava, voltei à infeliz verdade... não tenho nenhum sentido que me mostre o que fazer, como fazer, para onde seguir. Posso caminhar à beira erma d’esta corrente, sem propósitos definidos, entretanto, estaria desperdiçando meu tempo com algo sem nenhuma razão de ser. Se eu encontrar uma lógica para fazê-lo, então, o farei. — Silenciou-se esperando que a lógica de materializasse à sua frente, entretanto, o contrário é que foi visto aos seus olhos âmbar.
Uma porta ornamental e dourada estava escondida na escuridão de uma parte ainda mais densa em arbustos avultados e complexos; o que não tinha lógica alguma, decerto, muito menos razão de ser. Sendo Alice a menor das criaturas, até então, naquele santuário de fauna e flora ancestral, como pode a porta ser do tamanho de Alice? — Ou cresci ou estou delirando... — Sussurrara. Caminhou se esgueirando nos arbustos e notou que, aquela espécie de planta tinha folhas e galhos que se faziam como um muro ao redor do umbral, se contorciam entre si formando um imenso bloco intranspassável. Diante à primeira porta, Alice tentou abri-la e... abriu facilmente. Porém, havia outra porta e, depois, outra e, mais umas e outras tantas.
Depois de um túnel de portas, quando o lume da floresta atrás de Alice já estava dilatado e ela estava exausta de girar maçanetas, uma das portas estava trancada. “Que ótimo” ela ironizou “tudo isso para nada... ora... eu bem sabia que não havia nenhuma lógica nisso tudo e, portanto, eu não poderia e não devia gastar meu tempo...” reclamara. Com profunda exaustão em retornar ao bosque denso, sentou-se ali mesmo, de frente ao umbral trancado e, então, segurou suas pernas para conseguir sentar-se, pois, era um túnel bem estreito.
— Não adianta... não vale fingir que há um rumo para seguir; tudo se faz de forma aleatória e vazia, não há profundidade em nenhuma decisão que se pauta sobre um talvez e mesmo se formos motivados pela esperança, esta é, sem dúvida, a maior das mentiras; com esperança vim aqui e com ela me estorvei. De que adianta caminhar sem rumo, só por caminhar, insistindo na ausência de sentido real, para chegar a um fim que é, pois, uma porta trancada? — Alice esperou uma resposta e silenciou. Suas lágrimas nasceram como o córrego que, de súbito, ouvira há pouco. E caíram salgadas sobre o chão de terra. Alice chorou de olhos fechados, uma cachoeira se fazia em seu semblante; e ela soluçava.
Assim que se cansou de chorar, abriu seus olhos âmbar e viu que, onde a terra umedeceu-se pelas lágrimas, brotos verdejantes germinaram. Tinham caules pequeninos e duas pequenas folhas no cimo, às vezes três, curiosamente uma acima da outra, formando um estranho padrão. Eram rígidos, porém, macios; um pouco porosos e, tal como o fruto que caíra, tinham lanugem. Ao tocar em um dos caules, ele se quebrou; era frágil e, na mão de Alice, ressequiu em segundos. Era um de três folhas. Por pareidolia, parecera uma chave de carvalho assim que murchou. Alice, então, adicionou o caule na fechadura e a porta se abriu.
— Isso não faz sentido... — Murmurou, tocando na maçaneta. Detrás da porta: mais floresta, entretanto, ainda mais fechada e nebulosa que antes. Havia quatro caminhos, feitos de ardósia vermelha, à disposição de Alice. Para lados diferentes e, por vezes, opostos. Pareciam longos e, portanto, impossível escolher mais de um para saber o que esperaria no fim. Alice sentou-se sobre uma pequena rocha na divisa entre todas as estradas e esperou sem saber o que esperava. — Estou ficando cada vez mais triste... por que há tantos caminhos? Não seria mais simples apenas um? Por que não colocar placas que indiquem o que haverá no fim de cada estrada? Assim a escolha será justa e ponderada!
Enquanto falava, um gato preto, com listras marfim em sua fronte, grandes olhos pálidos, um cachecol de folhas secas e um imenso sorriso, com dentes pontiagudos, de ponta a ponta em seu semblante, apareceu entre os galhos de uma árvore anã. Alice o olhou e, por segundos, teve a sensação de que ele não pulou nos ramos para ser visto, ele simplesmente apareceu após estar translúcido, de alguma forma. Tudo ao redor estava estranho e meio embaçado. Ele sorria de maneira macabra, mas Alice estava sem perspectivas, portanto, não se intimidou com a presença ilustre do felino — ela pensava que, se ele fosse alguma criatura má e violenta, ao menos acabaria com a ausência de sentido que ela tanto sentia em sua alma, libertando-a por fim, com a morte.
— Olá, Alice. — Disse o gato. Os olhos dela se arregalaram ao ouvir aquela grave voz falando o seu idioma.
— Gatos não falam! — Proferiu, esfregando seus olhos.
— Estou falando, não estou?
— Sim, está, mas é loucura, é claro que é loucura!
— Se tu estás me ouvindo, então tu és, decerto, completamente louca. — O gato lambeu-se.
— Não! — Gritou Alice. — Tu que és o louco! Pois estás falando! A culpa não é minha por ouvir o que dizes! — O gato sorriu ainda mais e silenciou, voltando a lamber seus pêlos lustrosos. Alice percebeu que, se não falasse com o gato, não poderia saber o que fazer e para onde ir. A ideia a conturbava e a irritava, falar com um gato lhe era constrangedor. Mas, de fato, aquele felino era diferente dos outros; ainda assim, Alice odiava a ideia de estar enlouquecendo e isso a impedia de retomar a conversa com o gato. Seu esforço para mudar de opinião foi tão grande que, somente no desespero da sua falta de sentido, ela foi capaz de ir contra todas as suas angústias.
— Ah, tudo bem. — Ela disse, bufando. — Por favor, me ajude... qual dos caminhos de ardósia rubra eu devo seguir? — O gato deitou-se, olhando para Alice.
— Depende, onde queres chegar?
— Não tenho sentido, não sei para onde ir e muito menos onde quero chegar.
— Neste caso, qualquer caminho serve.
— Não é verdade! Se escolho este — Alice apontou para o caminho à direita — posso chegar a um lugar desagradável e ter perdido meu tempo caminhando.
— Então, tu só podes escolher um caminho se souber o que há no final dele?
— Exatamente! — Disse, orgulhosa. O gato gargalhou.
— Isso é coisa de louco! — Disse o gato. Alice se enraiveceu. — Ora, é loucura caminhar apenas se houver uma certeza; toda a certeza é inútil e falsa, logo, tu nunca poderias escolher um caminho, pois, mesmo que tivesses certeza de onde chegaria, não sabes absolutamente nada do que encontrará enquanto andas.
— Mas... — Respondeu Alice, nervosa. — Se sei que chegarei em um lugar agradável, consigo suportar os caminhos difíceis, não? Guiada pela esperança.
— Hum... achei que a esperança era uma mentira... — Parafraseou o gato que, agora Alice sabia, escutava-a a todo o momento.
— Bisbilhoteiro! Se me ouvias, por que não se manifestara? — O gato apenas se lambeu e sorriu. — Olha, a esperança é uma mentira quando acreditamos nela sem nenhum filtro; quero dizer, acredito que nesse caminho há algo bom, e durante todo o trajeto, por mais angustioso que seja, continuarei acreditando. Logo, chegando ao fim dele, descubro que não era bom. A esperança destruiu tudo! Sem ela eu poderia ter desistido e me guiado para uma direção menos amarga. Agora, se tenho certeza de que há algo bom, a esperança faz sentido!
— Que chatice... — Ele disse, irritando Alice. — Viver baseando-se em sentidos e certezas é a coisa mais chata que já ouvi.
— Ah, é mesmo? E como tu vives, senhor Gato? — Ela cruzou os braços e ergueu seu rosto, duvidando do gato sorridente.
— Eu? Vivo pelo que me cativa. — Ele respondeu sem hesitação e bastante concentrado em lamber seus pêlos.
— E o que te cativa? — Insistiu Alice.
— Viver. — Respondeu o gato, sem alardes, enquanto espreguiçava. Alice ficou em silêncio.
— Como é possível se cativar pela vida em si mesma? Principalmente se os arredores são hórridos e decadentes? Se os caminhos são tortuosos, se não há nada que signifique algo em seu coração?
— Justamente. Se a vida em si mesma é suficiente, por mais que lhe venha de encontro no pior de suas manifestações, ainda assim, tu encontrarás algo de valor nela, pois tu a compreende e, sendo a vida instável, variável e efêmera, e admirando-a por tudo isso que ela é, não esperarás que ela seja diferente do que é e lidarás com suas características com bastante empolgação.
— Mas... aceitar em silêncio as condições hórridas da vida, é um martírio! Caçar preciosidades na lama dos porcos, é humilhante!
— Alice, nem uma árvore aceita em silêncio as condições precárias da vida! Ela sempre encontra novas formas de burlar as turbulências, isso é uma característica que só é possível na vida. Cativar-se pela vida é aprender a conviver com ela, ajustando-se e sabendo lidar com suas manifestações. Por exemplo, digo-te que, vá à direta; e encontre o Artesão de Aspecto. Ou à esquerda, para a toca do Láparo Esguio. E tu, agora, cativada pela vida, vais não pelo Artesão, tampouco pelo Láparo, vais pela descoberta do que há no caminho até lá; ruim ou bom, difícil ou fácil. A graça está em saber lidar com a surpresa do que há de vir.
Alice ponderou por um tempo.
— O Artesão e o Láparo são confiáveis? — O gato gargalhou por notar a insegurança que Alice ainda possuía.
— São malucos como tu és, como eu sou.
— Eu não sou louca! — Lamuriou Alice, outra vez.
— É o que dizem os mais loucos. — Afirmou o gato, sorrindo e translucidando, sumindo como poeira cósmica.
— Ei! Volte! — Bradou Alice, sozinha outra vez. — Não entendo...
Na bifurcação dos caminhos feitos de ardósia escarlate, Alice observava. Ao além, na perspectiva de cada rumo, apenas a névoa rosé. A escolha deveria ser feita de qualquer maneira, mas, para Alice, o que mais pesava eram os seus pensamentos e não as decisões que precisava tomar. Mesmo e apesar dos conselhos do gato sorridente, algo sobre o sentido da vida ainda lhe perturbava e encontrar uma lógica perfeita para suas ações era-lhe sempre a única opção plausível.
— Vou para o Artesão porque já vi o Láparo e ele sequer notou minha presença. — Murmurou para si, enquanto caminhava. — Mas não sei o que direi ao encontrá-lo e esse caminho parece-me maior do que previ. Sinto falta de ver o céu. — Alice olhou para cima, parando de andar por um instante. As copas altíssimas continuavam ocupando todo o firmamento, como se as constelações fossem folhas e, muitas delas, caíam com profunda lentidão, desprendendo-se das árvores e levadas pela brisa vaporosa. Por olhar para tão altas estruturas, sentiu-se um pouco inquieta. — É assim que se sente uma formiga? Posso ser pisada a qualquer momento... — Alice voltou a caminhar. — Se não tenho sentido, tanto faz ser pisada. — Disse e logo lembrou-se das palavras do gato. — A diversão está mesmo no caminho? Olhe só para isso, uma longa estrada com essa névoa baixa, sem nada acontecendo. É bem tedioso e solitário. Qual é a graça? Nada aqui é capaz de cativar! E, pior, meus pensamentos parecem mais altos aqui.
— Ei! — Alice ouviu e, de imediato, parou e olhou para trás, para os lados, ninguém. — Aqui embaixo! — Disse a voz envelhecida e fina. Ao olhar para baixo, Alice viu um rato deveras estranho; um longo rabo bege, dentes humanos, sete orelhas, 4 patas com seis dedinhos finos em cada; seus pêlos cinzas não completavam todo o seu corpo, pareciam falhos em partes. A verdade é que Alice achou a criatura horrível. — Oi, olá! É... te importarias em nos dar uma carona? — Disse o rato. Detrás dele, dois outros ratos surgiram, um deles era um pouco menor; o outro tinha uns caules de trepadeira presa à cabeça, dando-lhe um aspecto de cabelo cacheado. Alice odiaria segurá-los em suas mãos.
— Ah... eu... não me sentiria confortável... sinto muito... — Explicou, sendo a mais delicada que pôde.
— Teu vestido é enorme! Ponha-nos na barra e nem sentirás nossa presença. — Disse a voz rouca do rato de cabelo de caule. De fato, o vestido de Alice era longo e arrastava-se pelo chão. Mas os ratos pareciam sujos e isso a incomodava.
— Eu não posso, o vestido pode rasgar.... ah... para onde ireis? — Tentou mudar de assunto para evitar o conflito.
— Precisamos achar uma nova casa.
— Nós esquecemos onde estava a última...
— É... esquecemos... — Disse o rato menor, pela primeira vez, bastante frustrado.
— Como se esquece onde está sua própria casa? — Alice estava incrédula.
— Ora, tu sabes onde está a tua? — Ao tentar se lembrar de sua casa, Alice sentiu-se triste como um abismo que lacrimeja solitário por sempre levar à morte aqueles que nele se aprofundam.
— Eu não sei... mas... eu não a perdi... apenas não me recordo... — Os ratos riram.
— Isso é esquecer, oras! — Caçoou um deles.
— Por que sois tão vis? — Indagou Alice, com a voz trêmula.
— Não somos vis... não precisa se preocupar, tu podes criar, como nós, um lar novo! Basta que encontres um lugar à sombra, bem arejado.
— É, bem arejado.
— E que tenha comida próxima! — Alice se irritou ao ouvi-los.
— Não é assim tão simples quanto respirar! Encontro um lugar bem arejado e ele se torna imediatamente a minha casa? Então posso dizer que essa estrada é minha casa? Uma casa precisa de algo a mais... — Os ratos se entreolharam.
— Uma casa é só uma casa... o que tu estás dizendo, altíssima?
— Digo que uma casa é, essencialmente, um lugar em que o sentimento de segurança e pertencimento estão.
— Eu me sinto seguro comigo... e pertenço a mim! — Disse o primeiro rato.
— É, eu também! — Falaram, em uníssono, os outros dois.
— Então somos nossa própria casa?
— Guardamos a comida na pança! — Zombou o rato menor, levando seus familiares à gargalhada. Alice respirou fundo e voltou a caminhar, apressada. — Ei, espere! Altíssima! Dê-nos uma carona!
— Darei se me alcançarem! — Alice correu sem olhar para trás e, em poucos instantes, os ratos a perderam de vista e ela pôde voltar a caminhar. — Que criaturinhas insolentes! — Reclamou Alice, ela odiava o fato de saber, no fundo, bem no fundo, que aqueles ratos sujos estavam certos. — Voltarei para meu lar... em algum momento... deixarei esse lugar e voltarei e me lembrarei. Um recôndito onde há os sentimentos que serenam a alma e significam a existência. Esse alarde de que não precisamos de sentido e que qualquer lugar pode ser uma casa, prova tão somente o quão superficiais são esses animais falantes! — Alice esforçava-se para argumentar conta os ratos e o gato, mesmo eles não estando mais presentes. — De que adianta ser capaz de pronunciar palavras, mas só pronunciar palavras tolas? Que superpoder inútil! — Alice começou a imitar a voz rouca e fina dos ratos. — Olha, olha, eu posso falar, eu estou falando, mas só sei dizer asneiras; eu só falo bobagem, mas ouça, ouça, ouça-me! Eu falo alto, meu falatório irritante, palavras gastas, perdidas, amassadas! — Alice gargalhou de si mesma por imitar os ratos falantes e após rir por bons minutos, pensou que não se sentia segura consigo mesma tal como os ratos e, da mesma forma, parecia não pertencer a si. Perceber isso a deixou bastante magoada. Quando ela avistou o que lhe parecia, pois, uma casa, distraiu seus pensamento merencórios.
O clima transfigurou-se estranhamente; como se um peso pairasse, densificando e enegrecendo o derredor. Próxima à casa, Alice notou a névoa mais vermelha e um aroma peculiar de queimado lhe atordoou célere. Por um momento, hesitou em bater à porta da casa de madeira escura, pois, algo de fato lhe parecia errado ou, talvez, apenas pouco convidativo. A verdade, no entanto, era que seus pensamentos lhe convenciam de que, se Alice não se lembra de sua casa, não pertence a si e tampouco possui um sentido, então, por que não arriscar sua própria vida? Eles diziam: “Vá, Alice! Não há nada a perder, não há a quem voltar”. E Alice os ouvia, pois estava acostumada a ouvi-los.
Dois toques na aldrava e, pouco depois, o que parecia um homem, um pouco mais alto que Alice, surgiu. Ele vestia uma grande cartola, roupas estravagantes, e seu rosto era amedrontador; parecia usar uma máscara com retalhos de pele. O odor tostado vinha do interior da casa e mesclou-se ao bálsamo do homem, algo que beirava a sândalo, âmbar em notas de fundo, talvez algo mais terroso e sanguíneo nas notas de coração — até provável haver uma tênue exposição nicotinoide. Era embriagante e, ao mesmo tempo, perturbador.
— Uma dama aos meus umbrais?! — A voz do homem era como um cello fundido ao canto gregoriano. Alice reverenciou-o, abaixando-se; e logo voltou a fitá-lo. O homem a cumprimentou, beijando o dorso da delicada mão de Alice. — Por favor... — Convidou o Artesão, mas Alice fitou o interior escuro da casa e logo hesitou.
— Eu agradeço... a gentileza... senhor Artesão, entretanto, vim tão só de passagem, para compreender um pouco mais sobre este estranho lugar. — O homem pareceu compreendê-la.
— Então sente-se. — Indicou para Alice as cadeiras à mesa, próximas da casa, dispostas no jardim murcho e seco. Sentaram-se. — Não és daqui, pelo que vejo. Então de onde és? — Alice ouviu e, tão logo, notou que de fato se tratava de uma máscara, pois, os lábios não se mexiam quando o homem falava.
— Não sei ao certo... lembro-me de despertar na costa, ter uma visão estranha de um veleiro... — Lembrar do veleiro embaçado, trouxe o aperto ao coração de Alice. — E, depois, adentrei à floresta logo que vi um coelho esguio de três olhos...
— Hum... claro... e o que buscas, senhorita? Um corvo empalhado? Uma escrivaninha perfeita? Ou talvez... um sentido? — Alice arrepiou-se, tanto pela voz tétrica, quanto, essencialmente, pela última indagação do homem. Os olhos dela se arregalaram de súbito. — Sou um Artesão raro, posso te ajudar com tudo e... muito mais.
— O... o gato... te contou? — Proferiu Alice, inócua.
— Chesir? Não o vejo há um tempo. Tu encontraste a criatura? — O homem conversava como um Dom e mantinha-se bastante estático.
— Ele se chama “Chesir”? — Alice questionou mais a si mesma, enquanto ponderava a razão pela qual o gato não se apresentara a ela.
— Sim... E eu sou Thez, o Artesão de Aspecto.
— Eu sou Alice... — Revelou.
— Alice... — Sussurrou o homem, aproximando-se um pouco mais. Alice sentiu-se incômoda, pois a presença do Artesão era persuasiva e densa como o derredor e o interior em breu daquela casa de madeira. Ela não saberia descrever o que sentira, mas eu sei bem, uma atração pelo Artesão a envolveu de súbito. — Belíssimo nome...
— Se não falas com Chesir há tempos, como sabes sobre o sentido? — Thez encostou-se novamente no espaldar da cadeira e Alice sentiu-se tímida.
— Todos buscam um sentido, senhorita; é previsível daqueles que pensam, sentem e, em especial, desejam. Sou capaz de moldar um rosto para a Dama, esta face lhe trará sentimentos e pensamentos, emoções e razões para uma vida completa, sem que tenhas que escolher, sem que tenhas que aprender.
— Mas... eu gosto de minha face! Não quero trocá-la, embora não me lembre ao certo como ela é.
— De fato, teu rosto é... encantador. — As bochechas de Alice coraram. — Não te preocupes, entretanto, senhorita; sou capaz de dar-te um aspecto sem que sua aparência seja ofuscada. Basta confiares em mim. — O aroma capitoso do homem, não proporcionava confiança para Alice, embora fosse agradável de sentir, suas notas continuavam a inquietá-la.
— Como isso é possível? — Ela duvidou.
— Dar-te um aspecto ou ser, a ti, confiável? — Embora o rosto de Thez não pudesse ser visto, ele parecia sorrir.
— Ambos, senhor. Sobre dar-me um aspecto, embora eu seja uma mulher adulta e ciente de minhas decisões, sei que este lugar até então foi contra tudo o que é racional e, portanto, não há como não questionar essas verdades. Sobre confiar em ti... pois... é impossível! Eu não vejo sequer o teu rosto. — Alice aguardou uma resposta, mas Thez ficou uns minutos em silêncio até que, então, decidiu levar sua mão ao rosto e logo retirou sua máscara de pele retalhada. O Artesão era mesmo um homem, entretanto, seus olhos eram de um tom malva-empoeira brilhante, tão símil a tudo naquela floresta; sua barba era delineada em um cavanhaque, arredondada no queixo e pontiaguda próxima aos cantos dos lábios. Contornava seu maxilar em destaque. Seu semblante era sério e sua beleza era inquestionável, muito diferente da bizarra máscara que usava, porém, ainda capitoso, sutilmente, impudico.
— Tu... tu és mesmo um homem! — Exclamou Alice, perplexa e instigada.
— Há muitas formas de provar-te que sou um homem, senhorita Alice; retirar minha máscara é a mais... decorosa... das formas; entretanto, receio que não seja o suficiente para que confies em adentrar meu Ateliê; por isso proponho que tragas um conviva contigo. — Alice ponderou. Thez não parecia louco como dissera Chesir e, àquela altura, para Alice, talvez ele não fosse tão perigoso quanto aparentava.
— Não sei se poderia; desde que adentrei esta frondosa floresta, vi o coelho, o gato Chesir, um trio de ratos enfadonhos e nojentos... e por fim... um Artesão. — Thez semissorriu e, antes que alguém continuasse o diálogo, uma raposa surge, com um vestido de gala; ao seu lado: Uma fuinha marrom e muito, mais muito, muito mesmo, muito peluda.
— Aem! — Saldou a fuinha, para Thez. Parecia uma saldação e Alice compreendeu assim. Sua voz era doce e muito fina, como a superfície de uma nuvem.
— Eu estava dormindo, acredite ou não. Estes tempos loucos estão bagunçando meu ciclo de sono. — Tagarelou a Raposa. Alice estava profundamente confusa.
A fuinha se sentou em uma das cadeiras, mas, como era pequena — menor bem menor que Alice — ficava apenas com seus olhinhos à vista na mesa. Thez que era o mais alto, com um metro e noventa. A raposa sentou-se ao lado de Alice, elegante e calma, como uma dama, todavia, antes mesmo que ela pudesse se acomodar, o Lápago Esguio colocou três coelhos pequenos, mortos e ensanguentados sobre a mesa; assustando a todos, em especial Alice. A seiva rubra esguichou em todos os rostos. Alice sequer viu de onde veio o Láparo.
— Ah! Que deselegante! Por todos os corações empalhados, tenha mais educação! — A raposa levantou-se, segurou os coelhos e caminhou em direção à casa de Thez. — Vá buscar a pimenta, ande! — Os coelhos pingavam sangue pelo caminho. A fuinha pensou que o pedido de pimenta se direcionava a ela, então decidiu partir, embora não quisesse, pois, a figura de Alice lhe parecera interessante. Além disso, era timida demais para contestar a raposa. O Láparo, incompreensível e apressado, apenas foi embora. — Iniciarei o cozimento do jantar. — A raposa disse e, logo, fechou a porta. Alice estava sozinha com Thez outra vez; ambos demoraram para iniciar o diálogo e Alice compreendeu o porquê todos pareciam loucos. Quão estranho era todo aquele movimento e ninguém sequer perguntou quem era ela.
— Vulpia prepara as refeições noturnas aqui... — Proferiu o Artesão. — Pegue isto. — Ele ofereceu um lenço para Alice que, tão logo, o aceitou, para limpar o sangue de seu rosto. — O Láparo não é muito atento ao que faz... — Amenizou Thez. — Além de estar sempre apressado... — Pouco depois, o Artesão se levantou. — E a fuinha é bem tímida. — Explicou. — Venha. Deixe-me mostrar-te meu ateliê; Vulpia estará na cozinha, portanto, não precisas temer... não estaremos à sós.
A casa era escura, entretanto, Vulpia parecia destinada a manter o local mais aceso, pois, abriu todas as janelas e acendeu mais velas. Alice seguiu ao lado de Thez e logo foram ao quarto-ateliê, um aposento artístico e sinistro. Em seu interior, incontáveis máscaras pendiam na parede, como quadros. O cômodo era frígido e Alice tremia. O Artesão a cobriu com seu casaco, explicando que, em razão do poder fascinante das máscaras, o ambiente arrefecia de forma natural. Alice não conseguia compreender, mas estava atenta.
— Todos os rostos possuem parte das almas das criaturas mortas. — Explicara.
— Tu... mataste todos? — Alice temia indagar, todavia, sua espontaneidade falava mais alto.
— Não. A rainha o fez. Tome, experimente esta e sinta. — Proferiu, instigante. Alice não compreendia; queria questionar sobre quem é a rainha, mas viu-se segurando a máscara e tão logo a pôs em seu rosto, sem saber ao certo o porquê. A máscara era de uma cobra, ao que parecia; assim que a vestiu, Alice imediatamente desejou a morte de alguém que ela não sabia dizer. Sentiu um gosto agre na boca, como se ingerisse veneno; estava com uma certeza de que viveria até o fim de sua vida para vingar-se de todos que lhe fizessem mal. Ao mesmo tempo, ela sabia que aquilo não pertencia a ela. Thez retirou a máscara da atônita Alice. — E então? — Interrogou o Artesão. Alice não sabia o que dizer. — Talvez esta seja demasiado intensa para a tua sensibilidade feminil. Vista esta aqui!
Mais uma vez, sem que pudesse recuperar-se do horror anterior; Alice viu-se com a máscara do que lhe parecia um pássaro dourado. Sentiu-se leve, com a certeza de que a vida assopraria em seu rosto e que o sentido primevo para tudo era a liberdade. Estava disposta a ser livre, acima de tudo; nunca se apegar a nada, a ninguém. Aquilo era, sem dúvidas, um sentido belo e até poético, entretanto, não era Alice. No fundo de si mesma, perdia-se em si a cada máscara que vestia e o poder, das almas encarceradas nos artefatos, invadia o espírito de Alice como uma descarga energética. Sentiu angústia, medo, horror, êxtase, prazer e amargura; sentiu-se ser duas, três e até quatro; entretanto, em meio a tudo, havia sempre um resquício de nada, um nada perturbador e cada vez mais sufocante. Alice atordoou-se e caiu sobre o assoalho do cômodo.
— É fascinante, não? — Dissera Thez, ajudando Alice a se levantar.
— Isso... parece-me perigoso demais, senhor Artesão... sinto que... — Alice levou suas mãos ao seu tórax, como se acariciasse seu próprio coração. — Perdi partes de mim que jamais se recuperarão. Thez a olhou profundamente, tocando-lhe seu sedoso rosto. O ambiente ficara mais frígido.
— Posso fazer um sentido sob medida para o teu belo rosto, senhorita... — Alice arrepiara-se outra vez e se afastou do Artesão;
— Agradeço, senhor Thez... — Ela retirou o casaco que vestia. — Está tarde, preciso ir embora, se me permites. — Ela o reverenciou rapidamente e não aguardou resposta, entretanto, Thez retirou sua cartola em respeito ao adeus de Alice, mesmo que ela não o visse. Era certo que Alice estava com medo, pois, perder-se quando se tem tão pouco de si mesma é arrancar sua vida de si, sem que a morte venha lhe buscar.
Ela correu sem direção; seus olhos âmbar choravam outra vez. O vazio no peito era tangível, o medo de nunca mais ser Alice, amargurava-a. “Volta-te a mim, Alice. Sou Annae? Mariah? Elizabella? Ó, céus... por favor... Alice... das águas que lhe agradam, da curiosidade do seu ser... Posso agir como Nillah? Lillymor? Ehlen? De onde vêm esses nomes? De Alice? Alice se recorda de algo além? Mas se foge de si, de mim, como se lembra?” — Pensava enquanto corria e só parou de pensar quando tropeçou, quando não reparara que uma densa fumaça acastanhada pairava no ar e, portanto, impossibilitou a visão das pedras mais altas do caminho.
— Quem está aí? — Alice ouviu, após o tombo que fez arranhões doloridos em suas mãos.
— Sou eu... — Respondeu, um pouco confusa com a queda.
— Mas o “eu” também sou! — Respondera o que Alice pensou ser a fumaça.
— Não é isso que eu quis dizer... — Alice levantou-se, limpando a terra e as folhas de suas mãos e de seu vestido. — Meu nome é Alice, embora eu sinta que perdi a Alice de mim... — Tudo ficou em silêncio. — Senhora? Onde estás? Por que há tanta fumaça? — Alice olhava para todos os lados; o eflúvio do fumo era doce e amendoado. De súbito, um bater de asas grandes zumbiu nos céus e de lá descera uma mariposa cujo tamanho assemelhava-se a uma criança de dez anos de idade. Era alabastrina e felpuda, com duas antenas cheias de bifurcações em tom amarronzado; grandes olhos negros ela tinha e trazia consigo um tipo de incenso aromático.
— Quem és tu? — Indagou a mariposa; Alice ficou encantada com a beleza pálida e felpuda da criatura.
— Eu deveria ser Alice, mas estou confusa... — Respondeu, com inocência.
—Quem és tu? — Insistiu a mariposa. Alice respirou fundo.
— Eu achei que sabia, quero dizer; quando despertei, eu sabia que antes, em algum momento, eu era eu, mas, desde então, já mudei diversas vezes.
— Mudou como? — Perscrutou a mariposa. Alice sentou-se, suspirante.
— Queria um sentido para a vida, tentei alguns, mas perdi-me em todos; agora estou mais longe de mim do que outrora.
— O que achas desta pedra? — A mariposa falava da pedra que Alice usava como assento.
— Está confortável, na verdade.
— O que achas d’esta pedra? — A mariposa parecia não satisfeita com algumas respostas. Alice pensou bem.
— Eu gosto.
— Então já sabes que Alice gosta d’esta pedra.
— Sim, eu sei; mas, isso ainda não traz sentido para minha existência; tu podes gostar desta pedra igualmente e tu não és Alice.
— Não, a pedra não me agrada.
— Tu não compreendes! — Alice levantou-se, pretendia continuar seu caminho sem rumo.
— Ouça. Se o sentido de tua vida fosse encontrar esta pedra, o que farias agora? — Alice pensou mais uma vez; não lhe parecia incrível ter este sentido para a vida, entretanto esforçou-se para compreender a mariposa.
— Bem... eu estaria eternamente feliz? — Alice duvidou de sua própria frase.
— Certamente que não.
— Estás dizendo que a cada novo sentido, preciso de um novo sentido? — A mariposa fez silêncio e Alice a acompanhou.
— Todo o sentido é uma pedra no final... — Afirmou a mariposa. — E toda pedra pode ser um sentido...
— Por que precisa ser difícil? — Alice bocejou e caminhou até uma pilha de folhas secas. — Por que não posso apenas saber e pronto? Eu poderia ter nascido para colher maçãs e estar feliz colhendo maçãs eternamente. Mas, não, preciso estar com esse vácuo no coração, esse enigma no espírito. Eu pensei que tudo precisava de um sentido e o sentido precisava de lógica; agora perdi-me de mim mesma, sem sentido, sem lógica, sem fragmentos da minha alma. E agora o sentido é uma pedra e toda a pedra é um sentido... o que isso significa, afinal? — A Mariposa sumira e Alice pensou que havia importunado a criatura; olhou, então para cima, observando a floresta acastanhada. — Se deixo este lugar, vou a outro para sentir as mesmas ausências. Se decido um novo caminho, preciso decidir outro e, na maioria das vezes, estou na solidão que é capaz de aparecer mesmo quando há alguém próximo a mim. O que me parece é que a solidão e a ausência são os únicos e verdadeiros sentidos, o que faz tudo ficar extremamente angustiante. Por que eu viveria para isso? Quem poderia ter sido tão perverso a ponto de dar vida a uma criatura que não pode ser feliz?
— Senhorita... — Disse uma grave voz aveludada e Alice olhou em direção ao som. Ela imediatamente viu um Antílope negro com grandes e longos chifres. Era um animal forte e alto, não parecia um Antílope como qualquer outro. — Teu falatório inconclusivo está atrapalhando o sono de meus filhos.
— P-perdoa-me, senhor; já estou de saída... — Alice sentiu-se perturbada por perturbar outrem.
— Com tantas indagações, talvez devas encontrar a Rainha, pois ela sempre tem uma resposta para tudo.
— Não sei ao certo se quero respostas... bastar-me-ia a morte, neste caso...
— Duvido muito que anseies pela morte, senhorita. Se mal sabes lidar com a vida, como lidarás com algo tão mais enigmático? Por acaso sabes o que é a morte?
— Pensei que fosse o descanso eterno...
— É o que dizem, entretanto, se te apegas nisso com tanto vigor, como ousas não ver razão para se apegar em qualquer coisa na vida? A vida está ao teu dispor e a morte é o mistério indomável, ainda assim, preferes a morte? Estando sujeita aos horrores que desconheces ou aos prazeres abundantes ou, ainda, estando sujeita ao limbo, onde a ausência é ainda mais colossal do que essa mísera solidão que guardas em teu peito... ainda assim, queres a morte? Isso é estúpido, para não dizer outra coisa... — O Antílope arquejou, um pouco irritado. — Seja o que for, senhorita; se queres a morte ou se anseias por resposta, visite a Rainha. Ela é capaz de te dar tanto um quanto outro.
Alice sentiu-se bastante afetada pelos dizeres do Antílope; sentiu-se humilhada, em certo aspecto, pelas palavras agressivas disfarçadas de educação. A criatura foi embora, sem esperar um adeus e sem dar um. Alice decidiu caminhar no sentido que o Antílope olhava sempre que mencionava a tal rainha e, com receio de quebrar a lei do silêncio e importunar outras famílias, apenas ficou pensando, sem proferir uma única sílaba. As palavras do Antílope a deixaram sensível e ansiosa, então, mesmo sozinha e mesmo estando obrigada a calar-se por completo, nas profundezas de seu ser, ela buscou se acalmar da única maneira que sabia poder: recitando alguns versos. Por infortúnio, ela não conseguia se lembrar de nenhum e isso a deixou ainda mais aflita. "Esqueci-me de todos os poemas?” pensou “Que atrocidade sem tamanho... as musicalidades foram soterradas, as rimas perdidas, a beleza afogada no esquecimento...” — Alice percebeu que se aproximava um estranho medo.
— Envolta em névoa onírica estive — ela recitou
— Pensares sobre tantas incertezas — Voz trêmula no segundo verso.
— No peito uma saudade ali mantive — Imersa por completa em seu poema.
— Proste-se, criatura, à Vossa Alteza! — Vociferou alguém e Alice sentiu uma pancada em sua cabeça. Ao buscar entender o que ocorrera, em um galho baixo estava uma simiesca criatura segurando um tipo de báculo curvado com uma maçã, a verter um licor escarlate, cravada na ponta. Ao tocar sua própria cabeça, onde sentira a pancada, Alice tateou em algo úmido e, ao olhar seus dedos, estavam carmim. De imediato entendeu o que se passara.
— Por que me feriste sem razão? — Ela bradou, em cólera. O símio sorriu, fazendo sons estranhos e desordeiros. Ele tinha uma cabeça amassada e minúsculas orelhas; era todo despelado, sua pele dobrava-se rosada e seu rosto era pálido. Tinha sete membros, três pernas e quatro braços.
— Estás entrando no reino da Rainha, portanto, deves cumprir os protocolos. — Grunhiu a criatura.
— Quem és tu? — Alice perguntou, irritadíssima.
— Sou o Sagui mais fiel à rainha.
— Não pareces um Sagui...
— É porque... tive de servir à fascinante Majestade e... como um bom súdito... eu... fui abençoado... Veja só! Agora tenho vários braços e mãos para segurar todas as maçãs que eu quiser. — Alice achou aquilo bastante pavoroso.
De repente, uma horda de animais de todos os tipos, eles carregavam galhos afiados nas pontas; estavam vestindo máscaras horrendas que lumiavam sob a luz do dia, feitas do que parecia ser fragmentos de vidro e pétalas de um tipo bizarro de planta coralina. Quatro grandes rinocerontes mascarados carregavam um tipo de trono feito de flores e, nele, uma mulher se assentava. Ela tinha os olhos fundos, um tanto cadavéricos; usava uma coroa de pinhas e galhos, tinha ressequidas folhas ao redor do pescoço, alongando-o e, por fim, vestia-se em um vestido na cor vinho, longo, régio e com corações... corações empalhados, de vários tamanhos, de inúmeras criaturas diferentes, como ornamentos em seu vestido. Seus cabelos eram rubros e uma tinta negrume contornava a linha do que seria seu sorriso e ao redor dos seus olhos de precipício. O Sagui escondeu-se atrás de Alice assim que viu a Rainha. Alice, amedrontada, ficou prostrada, em reverência, torcendo, na verdade, para não ser vista abaixada.
— Parem agora! — Gritou a Rainha. — O que é essa coisa? — Alice demorou um pouco para levantar seu olhar e perceber que a horda terrífica a olhava, embora não tivessem olhos de fato. Alice ergueu-se, apavorada e contida.
— Sou Alice... — Um silêncio pairou.
— Arranquem-lhe o coração! — Gritou a mulher, sua voz era estridente e com um fundo agourento.
— Mas por quê? Eu nada fiz! Não faz sentido! — Os animais se aproximavam, apontando suas lanças. — Vossa Majestade, eu posso lhe ser útil, não?
— Parem! — Mais um brado da mulher. — Útil?
— S-sim... Posso ser útil para... — Alice não sabia ao certo o que estava fazendo, tampouco sabia se daria certo.
— Alice sabe sair do arvoredo — murmurou o Sagui, interrompendo-a. Antes que Alice o contestasse, pois ela não sabia o caminho de volta para à costa, a rainha voltou a praguejar.
— Isso é útil de fato... a razão da minha existência se pauta em deixar essa floresta imunda! Vá! — Ordenou — Vá à frente, mostrando-nos o caminho. Alice ficou em silêncio enquanto caminhava para liderar à horda. Por sorte, ou não, mais à frente a rainha e seus súditos não podiam ouvi-la, apenas a viam. O Sagui a acompanhou.
— Por que mentiste? — Sussurrou Alice.
— Eu não minto! — Retrucou o Sagui e logo Alice percebeu que se tinha algo que aquele símio fazia, este algo era, decerto, mentir. Alice pensou em correr, mas, sentiu que não seria capaz de ir mais rápido que os rinocerontes. Depois, ponderou em como guiá-los todos para um abismo, entretanto, Alice não era uma pessoa má. Notou que as máscaras que as criaturas usavam eram semelhantes às do Ateliê do Artesão e isso a levou a imaginar que os animais estavam dominados por algo que não era eles mesmos. Alice parou seus passos e tomou uma decisão por impulso. Voltou à rainha, deixando o Sagui (que era um medroso) boquiaberto. Mesmo medroso, ele a seguiu.
— Para que possamos continuar, a Rainha precisara responder às indagações da floresta; eu as escuto e a ti repito. A floresta exige isso, para que o caminho se mostre. — Disse Alice com toda a sua coragem. Um silêncio pairou novamente.
— Interessante... — Disse o Gato, assustando Alice. Ao olhá-lo, todos ficaram estáticos, exceto ela e gato.
— Chesir? Como tu... — Alice estava confusa.
— Estou curioso, quais perguntas tu farás à Rainha dos Corações? — O gato sorria como outrora, um sorriso imenso e sinistro; seus olhos pálidos atentavam-se à Alice.
— Tu paraste o tempo? — É verdade que quando Chesir se aproximara da primeira vez, tudo parecera diferente e embaçado; uma densidade hialina envolveu tudo e as árvores pareciam mais lentas no encontro com a brisa da floresta; exatamente como acontecia naquele momento! Os sons ficaram rarefeitos, Alice sentiu-se estranha, todavia, ela não imaginara que todos esses sintomas eram culpa do gato, tanto daquela vez quando desta.
— Péssima pergunta! — Respondeu Chesir.
— Não, eu não farei essa pergunta para a Rainha. Quero saber como um gato pode parar o tempo! — Chesir ronronou, esfregando-se na árvore em que estava.
— Ora, todos os gatos fazer isso, não? — Ele sorriu ainda mais e, com uma voz embargada de beleza e astúcia, respondera: — Eu não paro o tempo, Alice.
— Como não? — Alice estava chocada. Chesir lambeu seu pelo límpido e expressou uma indiferença única, em tom solene.
— Ele é quem para quando chego. — Afirmara e não havia como dizer que ele não estava certo. Alice sabia o quanto aquele felino era astucioso. — Parece-me que tu não sabes o que perguntará à Rainha.
— Sei sim! — Alice afirmou, convicta, embora sua voz tenha ficado um tanto trêmula ao lado da exclamação (se, claro, isso fosse uma história escrita). — “Qual é o sentido da vida!” é a primeira pergunta. — O gato apenas a observava. — “Qual é o sentido da morte?” é a segunda pergunta. — Alice esperou uma reação do gato, mas ele continuava observando. — “Tu preferes a vida ou a morte? Se a vida, por quê? Se a morte, por quê?” é a última pergunta. — Chesir continuava com seu sorriso inalterado. — O Antílope disse que ela tinha todas as respostas... — Justificou Alice. O felino espreguiçou-se e se aconchegou, preparando-se para uma soneca.
— Lembre-se, Alice, não importa a resposta, importa apenas a pergunta. — Ele disse, carinhosamente. — Faça-me um favor, se possível. — Chesir, embora sorridente como sempre, parecia um pouco mais sério e menos debochado. — Pergunte-a por que a máscara que ela usa pesa mais que sua coroa. — Alice estremeceu e o gato deu-lhe uma piscadela com o olho direito. Ela sentiu-se profundamente instigada a perguntar àquilo para a Rainha.
— Vamos, mulherzinha, faça as perguntas! — A voz agourenta ressurgindo, fazendo Alice sentir dor nos tímpanos.
— Qual é o sentido da vida? — Alice iniciou.
— Sair dessa floresta imunda! — Respondeu a Rainha, como uma lâmina afiada. Alice começou a perceber profundamente o que o gato quis dizer com sua pergunta à Rainha, pois, além de não haver nenhuma máscara na face da Majestade, ela ainda parecia envenenada com sua própria índole, como as máscaras do Artesão que envenenavam a alma, levando-a a se fragmentar e se perder.
— Qual é o sentido da morte? — Indagou Alice, mas, naquele ponto, ela realmente não se importava com a resposta.
— Ser uma ferramenta para me guiar para fora desse mausoléu nojento! — Alice achava a floresta amedrontadora e, de fato, desejou deixá-la o mais rápido possível, porém, havia ali uma beleza estonteante e, por isso, ela não compreendia por que a Rainha dizia aquelas palavras violentas.
— Tu preferes a vida ou a morte? Se a vida, por quê? Se a morte, por quê? — “Penúltima pergunta” Alice pensou.
— Odiei essa pergunta, próxima! — Alice, que estava perto do trono ambulante, sentiu gotículas de saliva em sua face, tanto foi a impetuosidade da resposta da Rainha. E era chegada a hora. Alice respirou fundo.
— Por que a tua máscara pesa mais que tua coroa? — Questionou Alice. O olhar da Rainha tornou-se fúria absoluta.
— Arranquem-lhe o coração, agora! — Gritou a rainha. Os animais mascarados começaram a perseguir Alice que tão logo correu o mais depressa que pôde. A gramínea, que outrora envolvia seus pés com cuidado, agora parecia impulsioná-la para que pudesse fugir com a velocidade precisa. Mas esta ajuda não fora suficiente. Alice sobre uma pilha de folhas secas, caiu em um buraco profundo e infindável. Havia se livrado de ter seu coração empalhado pela rainha, mas agora se via caindo e caindo. Era como um poço profundo e sem sim, símil a um abismo sombrio; ela gritava em desespero e, amedrontada, fechou seus olhos com intensidade e jurou abri-los apenas quando algo acontecesse. É uma pena, pois perdera o espetáculo das fotografias na parede do poço.
Quando sentiu seu corpo colidir com algo macio, Alice abriu seus olhos lacrimejantes e quando ergueu seu olhar à paisagem, turvou-se na sublime apreciação amedrontadora de uma frondosa floresta colossal e, à sua frente, um oceano escurecido e plácido sob um céu rosa-empoeirado. A visão de um veleiro embaçado, atracado à costa, imediatamente a fez se lembrar de tudo o que vivenciara na floresta. O veleiro ainda apertava seu coração, era a mesma cena, o mesmo instante, a mesma visão e, agora, poderia ser uma boa hora para ir até o que lhe parecera uma miragem da primeira vez, pois, talvez não fosse ilusão. Ela poderia pedir ajuda e ser salva de perder-se eternamente no bosque imensurável... era o seu desejo, não era? Ela queria deixar o que lhe parecia uma ilha encantada em maravilhas e horrores, entretanto, Alice viu o esguio coelho de dentes afiados, igualzinho da primeira vez. Ele, com os mesmos movimentos, aparecera, mas, dessa vez, ele enterrou um relógio de bolso.
Para Alice, tudo fora idêntico ao início de seu estranho despertar, exceto pelo coelho enterrando um relógio. Essa sutil diferença mexeu, profundamente, com Alice. Por que ele desenterrou o relógio no início? Por que o enterrava naquele momento? E se as cenas eram idênticas, como pôde haver uma diferença? Havia tanto o que saber, tantas perguntas, tantos porquês. Como ficaria o Artesão? A Rainha arrancaria quantos corações para empalhar? E a fuinha encontraria ou não a pimenta que a raposa pediu?
Alice pensava e logo viu o coelho entrando, bastante apressado, para dentro do denso arvoredo. Ela não tinha muito tempo, ela precisava escolher. O que outrora era ausente, ali tornou-se um verdadeiro sentido; Alice queria saber mais sobre a magnífica floresta que lhe parecia tão íntima... tão familiar... Então, tomou a difícil decisão: deu adeus ao veleiro e foi, pela segunda vez, atrás do láparo esguio.

Sahra Melihssa
Poeta, Escritora e Sonurista, formada em Psicologia Fenomenológica Existencial e autora dos livros “Sonetos Múrmuros” e “Sete Abismos”. Sahra Melihssa é a Anfitriã do projeto Castelo Drácula e sua literatura é intensa, obscura, sensual e lírica. De estilo clássico, vocábulo ornamental e lapidado, beleza literária lânguida e de essência núrida, a poeta dedica-se à escrita há mais de 20 anos. N’alcova de seu erotismo, explora o frenesi da dor e do prazer, do amor e da melancolia; envolvendo seus leitores em um imersivo, e por vezes sombrio, deleite. No túmulo da sua literatura gótica, a autora entrelaça o terror, horror e mistério com a beleza mélea, o fantástico e o botânico, como em uma valsa mórbida… » leia mais
 15ª Edição: Aesttera - Revista Castelo Drácula
15ª Edição: Aesttera - Revista Castelo Drácula
Esta obra foi publicada e registrada na 15ª Edição da Revista Castelo Drácula, datada de abril de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula. © Todos os direitos reservados. » Visite a Edição completa.