20. Castelo Vampírico: Quem comer minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
Diário de Rute Fasano
09 de janeiro? — Saímos de onde Arturo estava. Aquele breve encontro com ele me deixou inquieta — acho que essa é a palavra. Ele estava no lugar que deveria estar, mas, ao mesmo tempo, não deveria estar ali. E todas aquelas peças, livros, aquele caos organizado das mentes que nunca param de pensar mexeram um pouco comigo, levando meus pensamentos para coisas além daqui. Algo que tirei de mim mesma antes de adentrar ao castelo.
Continuamos nosso caminho, na missão de encontrar Drácula. Mara chamou minha atenção dizendo que eu não deveria ficar de conversa com pessoas que não conhecia. Entendo que ela se preocupa com a própria vida, mas não sou tão distraída a ponto de precisar que alguém me lembre de tomar cuidado a todo momento — pelo menos eu acho que não.
Seguimos para fora do castelo, e não sei descrever de forma correta a sensação de estar ali, naquele lugar em que eu estava acostumada a ir toda vez que precisava da companhia da Ameritt. Não entendia o motivo de Mara querer procurar Drácula fora do castelo, mas apenas a seguia, pois ela parecia saber o que estava fazendo.
Andamos por entre aquele jardim diferente, seguimos pelo meio de um arvoredo, e então encontramos um monumento enferrujado. Era uma rocha oxidada que se erguia naquele meio, com uma abertura em seu centro. Parecia um convite para que entrássemos. Troquei um olhar com Mara, como uma permissão silenciosa do tipo “Posso entrar?”. Ela apenas disse:
— Espere aqui — e entrou na frente. Logo após, voltou e disse para que eu entrasse com cautela.
— Ué, entrando em locais desconhecidos? Não acha isso perigoso? — disse a ela, para implicar com seu excesso de cuidado comigo.
— Às vezes devemos seguir o caminho que o castelo nos orienta a seguir — disse ela, seca.
— E como você pode saber se o castelo não nos orientou a falar com Arturo? — perguntei.
— Eu não sei, mas vivi o bastante aqui para saber que as pessoas não são muito confiáveis quando estão sendo orientadas pelo castelo — ela disse, colocando um ponto final na conversa.
Entrei na fenda logo atrás dela, e o que vi estava fora da minha noção da realidade. Era como se eu atravessasse uma barreira invisível, estava deixando para trás algo que ainda me pertencia, mas que eu não reconhecia o que era. O ar estava cheio de uma fragrância diferente. Não era aquele odor característico dos jardins do castelo que eu estava acostumada. Havia um peso que parecia se manifestar em meu corpo como um cansaço físico, como se o espaço questionasse a minha permanência ali.
Olhei todo aquele jardim e fiquei impressionada com as flores mecânicas que brotavam do solo coberto de raízes metálicas. Havia um vapor suave sendo exalado por todas aquelas flores. O lugar estava saturado de um perfume que, para mim, é quase impossível de descrever em toda a sua totalidade. Era floral, era quente e metálico, como se, literalmente, uma flor de metal fosse aquecida até seu limite e exalasse de seus poros esse odor que parecia reagir à nossa presença.
Pelo canto dos olhos, captei algo à minha esquerda. Não sabia dizer o que era. Mara também havia visto, pois se afastou de mim alguns centímetros e foi em direção ao local. Eu a segui, e logo ela apertou o passo, ainda caminhando silenciosamente. Tentei manter minha respiração sob controle.
Segui Mara, sempre junta a ela, como eu havia prometido fazer. Mas o castelo não tem compromisso com juramentos.
Mara parou ao se deparar com um pequeno coelho com uma fita vermelha no pescoço — era o que estávamos seguindo.
— O que fazemos agora, pegamos o coelho? — sussurrei.
— Não. Vamos esperar ele continuar a andar e o seguimos — ela sussurrou de volta.
Ficamos paradas esperando, e nada do coelho sair. Ele ficou ali, nos encarando por um longo tempo. Fui dando pequenos passos em sua direção para ver se ele se afastava e continuava seu caminho, mas nada.
— Você acha que esse coelho pode nos levar até onde Drácula pode estar? — continuei falando baixo.
— Não tenho certeza. Apenas estou tentando seguir as orientações do castelo, já que meu plano não está conforme o planejado. Talvez essa fita vermelha no pescoço do coelho não seja por acaso — ela falou isso com muita seriedade.
— Isso pode ter sido feito por qualquer um no castelo. Pode ser só perda de tempo.
— Sei disso, mas não é como se tivéssemos muitas opções — ela disse.
Me abaixei até o coelho e coloquei devagar as mãos nele, que não se afastou em nenhum momento. Então, uma parede de galhos cheios de espinhos se ergueu num instante, me separando de Mara. Ouvi Mara gritar meu nome com uma voz firme e tensa.
— Rute, fique onde está, darei um jeito de te buscar.
Eu queria responder e dizer a ela que iria esperar, mas, antes que eu pudesse abrir a boca, os galhos ao redor de mim se contorceram, buscaram algo para se agarrar — e se agarraram em mim. O chão fugiu dos meus pés, e fui puxada, sem resistência, por um longo caminho.
Lutei em vão. Minhas unhas arranharam a madeira dura, meus joelhos e cotovelos foram esfolados. Fui arrastada pela floresta.
Fui deixada no meio do nada, num chão coberto de folhas secas, num local muito diferente do jardim em que eu estava antes. Estava muito além dele. As árvores altas formavam uma cúpula, com copas tão unidas que impediam o pouco de luz do dia que restava de entrar. A única iluminação vinha de lamparinas espalhadas ao redor, penduradas em algumas árvores.
Vi, então, figuras mascaradas caminhando silenciosamente, e me escondi atrás de uma grande árvore. Fiquei a observar enquanto passavam, se distanciando de onde eu estava.
Usavam mantos negros e carmesins. Suas máscaras de coelho escondiam seus rostos. As figuras caminhavam com passos ritmados, esmagando com os pés as folhas secas com um som abafado. Seguravam tigelas com coisas que eu não conseguia identificar, pequenos cestos de vime que pareciam conter pedaços de coisas que eu não conseguia ver — talvez flores, ossos ou algo pior?
Seguiam uma trilha entre as árvores, iluminada por pequenas lamparinas penduradas nos troncos ao longo do caminho. Eu senti que talvez estivesse vendo algo que não deveria ver. O castelo muda e se move — ele também nos muda e nos move. Esse fato já está mais que aceito por mim, e ele nos separar só confirma que tem alguma intenção própria. Quando ergueu entre nós uma parede com galhos cheios de espinhos, me deixando por conta própria, talvez fosse o jeito dele de me mostrar suas orientações. Forma terrível, essa. Então, decidi segui-los. Conforme eu ia andando atrás das figuras, a noite ia chegando, e o brilho das lamparinas parecia aumentar, deixando tudo com um aspecto tão reconfortante e um pouquinho assustador. Um vento fresco passava por entre os galhos. Havia umidade no ar, um cheiro que era uma mistura de terra mexida, velas queimando e um aroma doce e ferroso. Eu sabia que deveria voltar para o local onde Mara havia pedido para que eu esperasse, mas toda a minha razão se esvaiu diante do conforto daquela situação. Eu estava envolvida.
Eu ouvia murmúrios. Cânticos? O vento nas árvores, talvez? Ou só o roçar dos mantos pesados no tapete de folhas secas? Continuei seguindo os mascarados, a uma distância segura, tentando me manter escondida entre as árvores. Os segui até uma clareira. Lá havia uma grande mesa de madeira, com velas, taças, frutas, pratos. Havia aquele aroma doce e ferroso no ar, misturado ao cheiro quente dos corpos que começaram a se movimentar, como numa dança ritualística. Uma música começou.
Primeiro, o som veio dos pés arrastando levemente na terra. Depois, o som de um violino, tocado com uma lentidão fúnebre que foi, aos poucos, ficando mais rápida. Todos formaram um círculo, e as vozes se ergueram numa canção em uma língua que eu não entendia. Era um canto gutural que ondulava, palavras que pareciam mais uma tempestade do que um idioma em si. Uma dormência tomou conta de mim e, por um breve momento, quando a luz das velas tremulou, tive certeza de ver as sombras dos presentes dançarem sozinhas — fora do ritmo dos corpos que ali dançavam.
Meu coração batia forte — não por medo apenas, mas pelo fascínio que aquele grupo estranho despertava. Havia algo nos seus movimentos ritmados que me parecia tão belo... uma beleza distorcida que eu passara a apreciar aqui no castelo. Como se, aos poucos, ele revelasse para mim seu interior belo e delicado — e, ao mesmo tempo, vermelho e denso, como em carne viva. A dança cessou, e todos se afastaram, ficando de frente ao que parecia um palco improvisado.
Então, uma arlequim apareceu. Ela vestia um traje em tons de vinho e dourado. Seu rosto era branco pintado, e possuía um sorriso sem sorrir. Apareceu no centro do palco, chamando a atenção de todos. Ela estava conduzindo alguns coelhos — brancos, pretos e marrons — que saltavam ao seu comando, fazendo truques ao som de suas palmas.
Todos os presentes estavam vibrando com a apresentação, mas eu sentia, sem saber como, que havia algo estranho ali.
Cheia de floreios, fez uma pequena mesa aparecer à sua frente e depois uma coleção de pequenos coelhos, tão brancos quanto a maquiagem de seu rosto. Ela os fez saltar, dançar, desaparecer, reaparecer, e a plateia via tudo fascinada. Ela segurou com cuidado um daqueles pequenos coelhos e arrancou sua cabeça com os dentes, um filete de sangue escorreu de seu queixo branco, então ela repetiu o ato com outro; a plateia continuava animada. Logo, outro coelho foi erguido e outra cabeça foi arrancado e, logo depois, outro.
Os mascarados batiam palmas, vibravam, riam como se aquilo fosse um espetáculo inofensivo, como se tudo aquilo que a arlequim estivesse apresentando fosse apenas um truque muito bem ensaiado. Era um truque, não era? Eu quero muito acreditar que era, pois o estalo dos seus pescoços sendo arrancados ficou ecoando dentro da minha cabeça. A arlequim se inclinou sobre o coelho com a fita vermelha no pescoço, aquele que eu havia perseguido, segurou o coelho com as duas mãos, murmurou algo e num movimento rápido, arrancou a cabeça dele, o sangue jorrou, espesso e vermelho. Alguém na plateia riu. Ela riu como se estivesse embriagada, o som dos ossos do crânio do coelho se partindo enquanto ela mastigava era alto demais para ser real, meu estômago estava se revirando. Aquilo não era real, não podia ser real, não era, não é?
Minhas pernas tremiam. Eu queria recuar e voltar para o local onde Mara pediu para que eu esperasse. O aroma ferroso se intensificou e, dessa vez, estava levemente amadeirado. Um calafrio percorreu minha espinha. Havia alguém um pouco afastado do círculo, entre os galhos secos, apenas observando. A luz das velas parecia aumentar a sua sombra, que já era monstruosa: um corpo esguio. Naquela escuridão entre os galhos, suas formas eram incertas. Pelos grossos e escuros, um traje antigo, um manto longo e escuro que se arrastava no chão... Mas então ele deu alguns passos à frente e seu corpo foi iluminado — e eu vi, com horror, seu tórax e suas mãos que não eram cobertos de pele ou pelos, mas sim por ossos expostos. Um sorriso se abriu em sua face ao ver o horror no meu rosto.
Ele não era como os outros mascarados. Essa criatura — pois não consigo pensar nele como algo humano — tinha olhos vermelhos profundos, sem pupilas, e seu rosto era como o de um coelho, com pelos muito negros e um sorriso largo demais, afiado demais para um coelho real. Suas mãos, que estavam erguidas sobre o peito, eram de ossos, com garras afiadas e delicadas. Ele não olhava para a arlequim — ele olhava para mim. E a arlequim, percebendo que eu havia notado estar sendo observada, sorriu.
As vozes voltaram a cantar e a dançar com a aparição dele, alheias ao horror que me paralisava. Eu não conseguia seguir meu caminho para longe daquilo — e nem sei se eu queria sair dali, se pudesse. Eu pertencia àquele encontro ou era uma intrusa em um ritual que eu não entendia? Deveria participar daquilo? E, se eu não participasse, seria castigada por isso? Eram perguntas demais para um cérebro assustado e confuso. Eu quis muito correr, mas meus pés estavam presos naquele chão. Eu podia sentir que ele estava me esperando decidir. Mas, diante de tudo isso, algo em mim quis ficar ali e continuar assistindo àquela celebração. Eu sei que deveria estar com medo. Talvez, no fundo, eu estivesse. Mas o medo era deixado de lado diante da minha curiosidade, que prendia meus pés ao chão, me impedindo de ceder àquele medo e sair daquele lugar.
Ele caminhou até mim e, sem dizer uma única palavra, me estendeu aquela mão ossuda, com aqueles dedos sem carne para cobri-los — um sorriso muito aberto, direcionado a mim. Eu queria recuar. Mas, ao oferecer sua mão, meu corpo ficou tenso. E algo naquele olhar vermelho profundo me manteve no lugar. Havia algo de hipnótico naquilo. Eu sentia como se todas as gerações antes de mim — ou todas as vidas possíveis que eu pudesse estar vivendo, ou tivesse vivido — já tivessem pisado neste mesmo solo, assistido a este mesmo momento e também cedido a esta mesma hipnose.
Quando meus dedos tocaram os ossos daquela mão, um calor estranho percorreu todo o meu corpo, e fui levada sem resistência. O mundo girava ao meu redor. As figuras mascaradas voltaram a dançar como em transe. Pareciam desenhar com os pés padrões invisíveis naquele solo coberto de folhas secas. Ele me levou até a grande mesa. Sobre ela, velas, frutas, carnes de origem um tanto incerta, pães, taças com o que parecia ser vinho — tudo cheirando bem: umidade, especiarias, o cheiro de terra revolvida e, ainda, aquele cheiro doce e ferroso. Ele fez com que eu me sentasse na cabeceira da mesa e, depois, caminhou até a outra cabeceira. De frente para mim, levantou sua mão esquelética e fez um gesto rápido. Na hora, os dançarinos pararam suas danças febris, andaram até a mesa e, em ordem, cada um tomou seu lugar à mesa — máscaras de coelhos me encarando com suas cabeças inclinadas para o lado, esperando algo. Talvez o próximo comando dele. Olhei para cada rosto oculto pela máscara de coelho e parei meu olhar na arlequim, que fez questão de se sentar ao meu lado. Ela sorria e segurava um coelho que se debatia em seus braços e com um único movimento ela torceu seu pequeno pescoço e o som seco do estalo pareceu me despertar. Alguém — que não consegui identificar — riu baixinho; meu coração acelerou, mas consegui fazer minhas mãos permanecerem imóveis, sem tremer.
Todos aguardavam algo — e agora até eu estava aguardando, sem saber o que era e sem entender o motivo de eu estar fazendo parte daquilo. Então ele se levantou. Serviu cada um à mesa com um pedaço de carne, começando por mim. Depois de completar a volta, pegou um jarro e serviu cada um de nós com o que parecia vinho. Sentou-se e fez um gesto. Todos seguraram o pedaço de carne nas mãos e, depois que ele comeu, todos também comeram. A arlequim olhou para mim com um leve balançar de cabeça, como se estivesse me encorajando a comer.
Tive receio de ser a única a não comer e coloquei a carne na boca. O sabor das especiarias e um toque de chocolate amargo me ajudaram a mastigar aquela carne, que eu suspeitava vir do corpo descarnado da criatura sentada à minha frente. Assim que engoli, ele fez mais um gesto e levantou o cálice. À frente de cada um de nós havia um cálice. Peguei o meu e o levei até o nariz. O cheiro era quente. Era do cálice que vinha aquele odor doce e ferroso — mas também vinha dele. Algo dentro de mim me dizia para não beber. Talvez fosse a voz de Mara, entranhada em minha mente. A arlequim olhou para mim novamente, me encorajando a beber. Minha mente ficou perdida num nevoeiro de pensamentos e perdeu a resistência. Então, bebi.
Assim que aquele líquido quente desceu pela minha garganta, todos à mesa — menos ele — começaram a aplaudir. Todos pareciam estar em êxtase. Mas aquela alegria me deixava desconfortável. Eu me sentia leve demais, como se meu corpo estivesse perdendo as raízes que o prendiam à realidade. Então Mara surgiu. O alívio da sua presença foi imediato. Ela apareceu de repente ao meu lado e, sem hesitar, bateu no cálice que eu ainda segurava e agarrou meu pulso, me puxando da mesa. Tudo aconteceu rápido demais para que eu conseguisse processar.
A bebida se espalhou pelo chão, a cadeira caiu para trás, e então estávamos correndo. Ela estava me levando para longe dali. Eu olhei para trás uma única vez. A arlequim ainda estava sentada com os outros, acenando para mim com seu sorriso grande e imóvel. Ela também ainda estava sentada, assim como os outros — apenas me olhando. Corremos sem parar. A floresta parecia se fechar ao nosso redor. Quanto mais corríamos, mais escuro ficava, pois, para onde íamos, não havia mais a iluminação das lamparinas. Só paramos quando Mara me puxou para trás de um grande arbusto. Eu arfava, tentando recuperar o fôlego, mas meus pulmões ardiam. Mara se virou para mim — e pude sentir sua fúria.
— Que inferno, Rute! O que você estava pensando?
Minha mente rodava, o ar me faltava e eu tentava, inutilmente, lembrar com exatidão o que me levara àquilo, mas não consegui me explicar à Mara.
— Eu não sei — murmurei sentindo um arrepio subir às minhas costas — era como se eu tivesse perdido o controle por um momento.
Mara me encarou e seu olhar estava carregado de raiva, mas também havia medo nela. De onde estávamos, ainda conseguíamos ouvir a celebração, não havia terminado, e eu, dentro de mim, sabia que aquilo não era uma simples celebração. Eu não sabia explicar o que era, mas era algo mais, algo que eu havia feito parte e que não sabia se sairia ilesa. De repente, um click como se uma peça se encaixasse no meu cérebro e eu recordasse de uma sensação, um cheiro, algo familiar em um dos presentes à mesa.
— Mara! Drácula estava lá, ele estava naquela celebração. — Eu disse.
 Castelo Vampírico
Castelo Vampírico
Entre as paredes sinistras do Castelo Drácula, Rute Fasano registra em seu diário as angústias de uma alma consumida pela perda e pela culpa. Assombrada por memórias que recusam o descanso eterno, ela mergulha em abismos existenciais enquanto busca sentido numa fé já desfeita. Para Rute, a única certeza parece repousar na própria morte ou, talvez, numa reversão obscura dela. Seu relato é um testemunho de saudade e consequências, onde a linha entre a vida e o fim torna-se tênue como um último suspiro. » Leia todos os capítulos.

Valesca Afrodite Gomes
Valesca nasceu no Rio de Janeiro (RJ), cursa Ciências Biológicas, encontra-se no último período. Tem paixão por ciências, subcultura gótica, livros, seres sobrenaturais, ficção científica, cemitérios, igrejas e morcegos, ela também é voluntária em um projeto de divulgação científica chamado "Morcegos na Praça". Escrevia com frequência, mas afastou-se da prática ao... » leia mais
 15ª Edição: Aesttera - Revista Castelo Drácula
15ª Edição: Aesttera - Revista Castelo Drácula
Esta obra foi publicada e registrada na 15ª Edição da Revista Castelo Drácula, datada de abril de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula. © Todos os direitos reservados. » Visite a Edição completa.
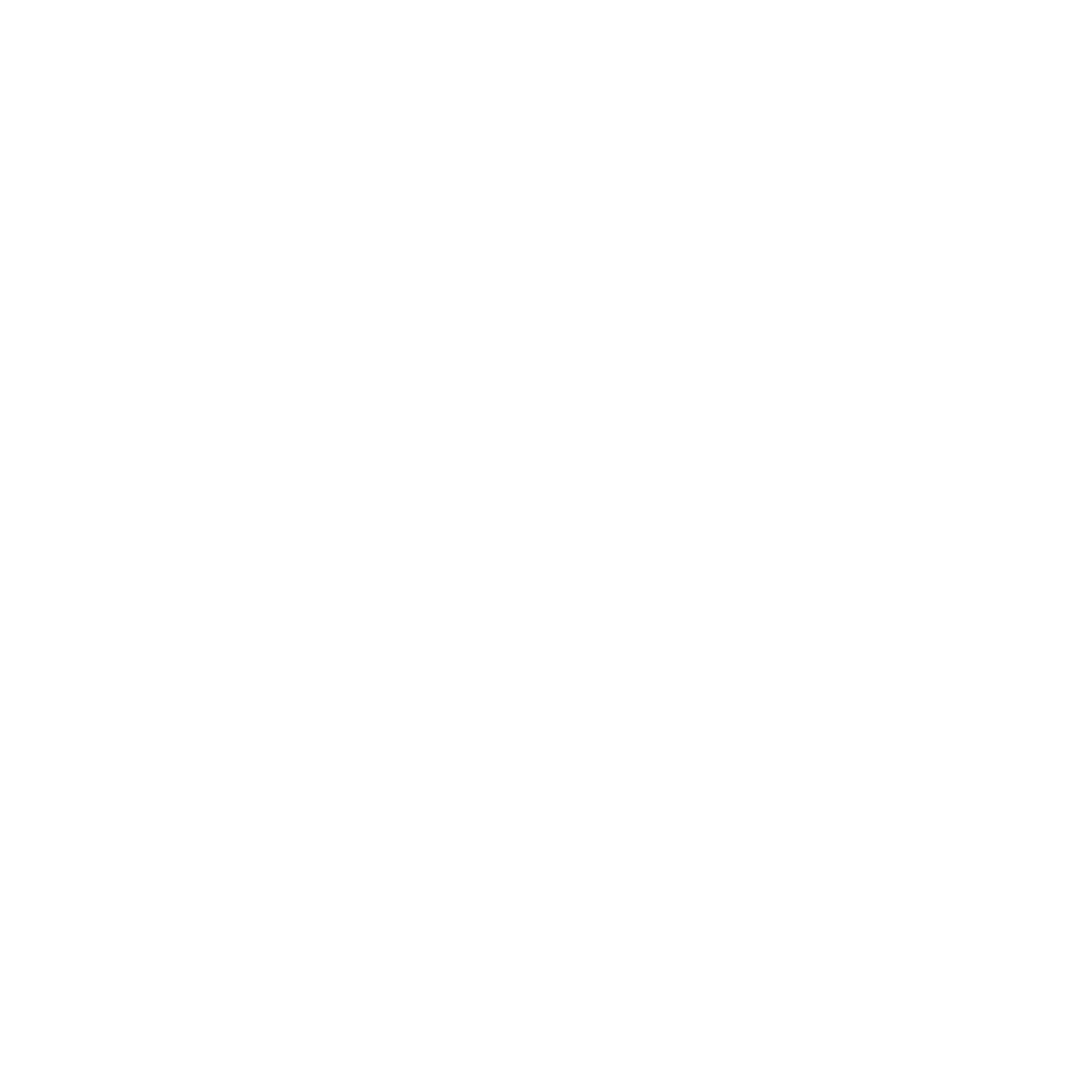




Diário de Sibila von Lichenstein. (Sem data - que dia é hoje?) A partida de Arale deixou um vazio em meu interior. Era curioso — talvez até contraditório…