O Tribunal das Sombras
Imagem criada e editada por Sahra Melihssa para o Castelo Drácula
Valéria S. Miahi
(Diário pessoal)
30 de Julho de 1871— Resolvi escrever como meu irmão fazia — hábito que nunca tive, mas que, por alguma razão, agora me parece necessário. Estes últimos tempos têm sido estranhos, como se algo no ar tivesse mudado... As pessoas nas ruas cochicham sobre eventos anormais, presságios, vultos à meia-noite. Mas preciso começar de algum ponto.
Ontem, o céu amanheceu como se carregasse um presságio sombrio — um véu cinzento sobre o mundo, pesado, úmido, como os olhos de alguém prestes a chorar. Eu não deveria ter saído. Mas como resistir? Havia algo na neblina da manhã que me chamava, como um sussurro sem língua, como se a própria terra curvasse-se à minha curiosidade.
Vesti meu traje de passeio mais querido — um vestido cor de vinho envelhecido, de tecido modesto, mas digno, com rendas finas nas mangas e na barra, feitas por minhas próprias mãos. O corpete me apertava o peito, não cruelmente, mas lembrando-me que sou feita de carne e limites. Prendi os cabelos loiros e ondulados num coque frouxo, deixando que algumas mechas rebeldes escapassem — um gesto quase instintivo, como se meu corpo dissesse que não sou de me conter.
Segui por uma velha estrada atrás da estufa da senhora Camille, aquela mesma que o jardineiro Rasson jura estar amaldiçoada desde o último verão, quando encontraram o cão da família Moore dilacerado, com os olhos arrancados. Uma cena que ainda ecoa nos corredores do cortiço.
Decidi me aventurar para conhecer melhor a região. No início, o caminho era povoado de casas e passos alheios. Mas, em algum momento — não sei bem quando — percebi que estava só. O silêncio cresceu devagar, feito erva daninha, até que me vi andando entre sombras e pedras molhadas.
Foi então que notei, próximo a uma poça d’água da chuva da noite anterior, algo como um papel encharcado. Curiosa, agachei-me.
— Um jornal?! — murmurei em voz alta, como se precisasse ouvir minha própria presença.
Os últimos dias haviam sido tão intensos que sequer me atentei às notícias. Se Anton soubesse disso, já estaria me repreendendo como o velho Padre Bento — com aquela cara de sermão e voz solene, capaz de transformar até uma receita de pão em pregação.
O que me chamou atenção foi a data... e o trecho ainda legível:
“Na madrugada de ontem, a tranquila neblina que pairava sobre o rio Sena (...) três corpos, dois de mulheres jovens e um de um homem, flutuaram às margens do rio, na degradada área de La Cité.”
La Cité... sempre soube que aquela região era perigosa, ainda que esteja mais ao norte. As indústrias tomam conta dali, com os ratos e os segredos.
Mas aquelas mortes... ficaram gravadas em mim, como se o papel tivesse sussurrado seu horror aos meus ouvidos. Olhei ao redor, sentindo a terrível sensação de estar só — não só fisicamente, mas em essência. Como se o mundo inteiro houvesse sumido, e eu estivesse esquecida ali, por algo que me observava sem rosto.
A aventura não foi longa. E terminou, confesso, de forma um tanto frustrante — com meus passos retornando apressados para casa, vencida por um medo que julguei infantil... mas será que era? Admito que ler aquela notícia me perturbou mais do que gostaria.
02 de Agosto de 1871 — Despertei esta manhã com minha mãe gritando do andar inferior. Chamava meu nome com urgência — eram seis da manhã, e havíamos trabalhado até quase três costurando roupas para clientes do bairro. Sonhava em continuar dormindo, mas a realidade, como sempre, puxou-me de volta.
Vesti-me rapidamente com uma blusa de algodão creme, bordada nos punhos com pequenas flores azuis, e uma saia de linho escuro, já um pouco desbotada. Amarrei um xale nos ombros e prendi os cabelos com fita — não por vaidade, mas porque o vento de agosto é traiçoeiro.
Do cortiço até o mercado não se leva mais que dez minutos. Paris é viva, pulsante, e mesmo em sua miséria se encontra tudo — de frutas maduras a sorrisos feridos.
Na esquina sul do mercado, um menino, talvez de doze anos, gritava como um arauto do caos, com uma pilha de jornais sob o braço:
— As notícias de Paris em primeira mão! Notícias fresquinhas, vindas do Sena e dos infernos!
— Garoto, me entregue um.
— Me chamo Giules, senhora. Aqui está — disse com orgulho, entregando-me um jornal com as mãos sujas, mas o coração limpo. Seus olhos castanhos eram grandes, atentos, cheios de uma esperança que Paris ainda não lhe roubara.
A manchete fez meu peito apertar:
“O Caso dos Corpos no Sena
Segundo a Gendarmerie nationale, as investigações têm sofrido entraves, o que gera insatisfação entre o maire e o conselho público. Durante a madrugada do dia 29 de agosto, um acontecimento inédito ocorreu: os corpos, que haviam sido levados à Universidade de Paris, desapareceram misteriosamente. Além disso, oficiais da Gendarmerie foram mortos num possível confronto. Houve um incêndio numa das alas da instituição. Moradores relataram sons estranhos, semelhantes a grunhidos, e uma testemunha afirma ter visto uma “entidade com asas de morcego” voando rumo ao céu.”
Naquele instante, o som das ruas sumiu. O burburinho, o ranger das rodas das carroças, o tilintar das moedas — tudo foi engolido por um silêncio cruel. Meus olhos ardiam. Minhas mãos tremiam.
Senti algo puxar minha manga.
— Se... senhorita, está bem? — A voz infantil de Giules me trouxe de volta. Devia estar com uma expressão horrível, pois ele me olhava com preocupação genuína.
— S... sim. Estou bem. Só me surpreendi com a notícia...
— Mas o que diz aí de tão assustador? — perguntou com uma inocência quase cruel.
— Coisas de adulto. Você... não sabe ler?
— Não, não sei — respondeu com os olhos agora escurecidos, como se a vergonha tivesse feito sombra sobre eles.
Antes que eu pudesse dizer algo, alguém gritou seu nome ao longe. Ele correu com os jornais ainda nos braços, mas a meio caminho parou, virou-se e sorriu. Um sorriso sincero. Aquele tipo que ilumina mais do que o sol da manhã.
E foi assim que o dia começou. Com um rastro de fogo dentro de mim, e a estranha certeza de que algo invisível está se movendo pelas ruas de Paris — e talvez, também, dentro de mim.
Anton S. Miahi XXII
(Diario pessoal - Póstumo)
Sem data – Escritura feita em meu caderno, entre as trevas e o fôlego último da razão.
A realidade dentro daquela cela, mais do que contrastante, era um espelho estilhaçado da sanidade. Havia em mim a dúvida como uma ferrugem, roendo os pilares da mente. Olhei meu braço — aquilo que outrora fora meu — agora uma mescla profana de carne, metal e Éter.
E então, a aparição: Alonso.
O espectro de meu irmão. Sua forma trêmula, seu olhar suplicante, e seu desaparecimento... como se houvesse sido tragado pelo próprio abismo.
Minha mente, ainda enegrecida pelas dores da transformação, foi domada pela frieza com que a guerra me educou. Era preciso calar o pavor e erguer a razão.
Levantei-me do chão pútrido com o vigor desesperado dos que nada mais têm a perder. Voltei, arfante, à sala onde Arturo cultivava suas abominações. O ar me feria o peito como vidro moído. O coração pulsava alto demais — não sabia se era um tambor de vida ou o prelúdio da morte.
Vasculhei a sala com olhos de predador.
Meu olhar caiu sobre um baú, ao lado de uma mesa profanada por tubos de vidro que cintilavam com líquidos de cor e textura inexplicáveis.
Aproximei-me. Ajoelhei. A tranca — aberta.
— "Ele realmente não teme que alguém fuce seus segredos..." — murmurei, mais para as sombras do que para mim.
Abri a tampa com mãos trêmulas. As dobradiças rangiam baixinho, como se também temessem o que revelariam. Lá dentro, relíquias de um delírio científico. Artefatos que não pertenciam ao nosso tempo. Objetos frios, inumanos. Mas um deles...
Uma arma.
Estranha, quase bela.
Não como as que portei na guerra, mas era certamente feita para matar. Examinei-a. O cano, os mecanismos, o gatilho... uma peça híbrida, como eu.
Pensei:
— "Se há uma arma, a munição há de estar próxima..."
Havia. Um estojo de projéteis cintilantes, como se fossem alimentados por luz. Carreguei a arma, improvisando um treinamento silencioso.
Precisaria confiar nos instintos.
Mais adiante, encontrei uma barra de ferro.
Não era meu sabre, mas seria minha extensão se a arma falhasse. Prendi-a ao cinturão, e com a arma em punho, respirei fundo.
E marchei.
Corredores estéreis e úmidos, paredes que choravam sangue seco e fungos. O ar pestilento oscilava entre mofo e morte.
Passei diante da cela da jovem... um nó me subiu à garganta. A lembrança do sofrimento dela, de sua expressão vazia, perfurou meu peito.
Segui.
Não sabia onde estava. Subterrâneos? Ala superior do castelo? As paredes não respondiam, apenas gemiam. Os corredores, talhados em pedra e pecado, faziam curvas labirínticas. Então, sob a luz doentia de uma lamparina, lembrei-me do diário de Arturo que ainda trazia comigo. Abri-o.
Uma página aleatória:
"Hoje conheci duas figuras intrigantes — uma dama de fala arguta, olhar felino; e um cavalheiro de aparência saudável, embora sua pele beirasse o albino. Curioso. Há algo de... antigo neles.”
Um ruído.
Atrás de mim.
Abracei o silêncio e aguardei. Respirei. E ouvi.
Vozes.
Gemidos. Lamentos. Tormento encarnado em som. Segui, tenso como fio estirado. Meus passos ecoavam no ventre da arquitetura maldita. E então os vi: cativos.
Seis celas. Homens, mulheres... retalhos humanos, olhares apagados. Experimentos. Fracassos. Almas em ruínas.
A dúvida me invadiu:
— Libertá-los? E se forem perigosos?
Mas posso deixá-los aqui?
O dilema me dilacerava. Mas havia algo mais forte: compaixão. Ou talvez, o desejo de fazer algo certo em meio ao caos.
— Vocês... vocês vão sair daqui. — sussurrei, quase sem acreditar.
Quebrei os cadeados, um a um. Os prisioneiros gritavam, choravam, corriam ou rastejavam. Uns me abraçavam, outros somente fugiam. Quando rompi a última tranca, um grito — não humano — explodiu pelos corredores.
Um corpo atravessou a penumbra e se chocou contra a parede atrás de mim, estalando ossos.
Silêncio.
Depois, outro grito — Grave, bruto como de uma fera selvagem.
O corpo estava dilacerado. Mordido. Cortado.
Os ecos do inferno haviam se soltado.
—Não estamos sozinhos... — Murmurei, erguendo a arma.
Anton S. Miahi XXIII
(Escrito em meu Caderno — póstumo)
Sem data — Ouvi. Um urro… ou seria um grunhido de alma profanada?
Veio como trovão sob terra húmida — grave, bestial — entrelaçado aos gritos lancinantes dos prisioneiros e ao estalar sinistro de ossos se partindo como galhos secos. Os passos, pesados, se aproximavam, um a um, como um relógio em contagem para a execução. E então... uma lufada de ar.
Não era brisa.
Era hálito.
Algo respirava sobre mim. Algo existia atrás daquele som.
Os cativos da última cela, em pânico cego, correram — tropeçando uns nos outros, ainda ensanguentados — e bateram a porta. Deixaram-me só, diante do inexprimível.
Não havia para onde fugir.
Um beco sem saída.
Eu, o tolo redentor, havia conduzido cordeiros ao altar de um lobo espectral.
— Oh, que infelicidade a minha... — murmurei, quase como prece amarga.
Sim, os mortos não mais se angustiarão com o presente... nem com o futuro.
Eles agora seriam as únicas testemunhas do meu fim — e, quem sabe, do nascimento de outra coisa, algo além do homem.
Assumi posição de combate. A mão esquerda empunhava a arma etérea de Arturo, ainda fria e desconhecida. A direita, o bastão de ferro — rudimentar, mas real.
Meus olhos varriam a penumbra, buscando um indício, uma forma, uma promessa de movimento.
Nada.
— Se vou falecer aqui, não será de joelhos... Ele sofrerá tanto quanto eu! — exclamei, mais para as pedras do que para o destino, fingindo haver dentro de mim algo além do medo.
A parede fria atrás de mim marcava o limite da existência.
O fim de qualquer tentativa de recuo.
E então…
Uma voz.
Sutil, suave, nas minhas costas.
— Senhor Anton… nunca houve chance de resistência.
Aquelas palavras soaram como gelo escorrendo pela espinha.
Mas o que as seguiu... foi pior.
Risos.
Não gargalhadas humanas.
Era um som que se dobrava em si — sarcástico, lascivo, prenhe de uma crueldade antiga demais para nome.
Ao tentar me virar, algo me deteve.
Mãos — ou garras? — se fecharam sobre minha cabeça como grilhões invisíveis.
E então...
Dor.
Uma dor vívida, quase luminosa, que me cegou os olhos com sua intensidade.
Não somente física. Era como se memórias estivessem sendo arrancadas…
Como se minha identidade estivesse sendo extraída pelas unhas de um monstro que ria porque sabia:
O que ele queria não era meu corpo.
Era minha alma.
Anton S. Miahi XXIV
(Escrito em meu Caderno — póstumo)
Sem data, noite — O frio me cortava como navalhas silenciosas. Senti o açoite do vento contra o rosto, enquanto, debaixo das palmas, a textura gélida e arenosa denunciava que eu jazia sobre a neve. Abri os olhos com esforço e logo fui acometido por uma pontada lancinante na fronte. Levei a mão à testa — úmida, latejante. O sangue, espesso e quente, escorria pela pele pálida.
Ao redor, uma arquitetura de formas circulares e entradas múltiplas — como o interior de uma cripta aberta ao firmamento. Gárgulas esculpidas em pedra grotesca me espreitavam de todos os ângulos; estáticas, mas com um olhar de morte que parecia transcender o inanimado. Seus olhos ocos sondavam os cantos daquele espaço como centuriões de um inferno esculpido em mármore antigo.
Ao alçar os olhos, não encontrei teto. Apenas um céu de veludo negro crivado de estrelas — como se aquele tribunal estivesse suspenso entre o tempo e o abismo. Sob minhas mãos, reconheci enfim a neve. E então, como sussurro que rompe a espessura do próprio passado, a voz:
— “Senhor Anton… nunca houve chance de resistência.”
Era uma lembrança. Mas não qualquer lembrança. Aquela voz... sim, era ele.
Nestor.
Ou... seria outra entidade ainda mais antiga?
Tateei a memória como quem rasteja entre ruínas. Lembrava do golpe traiçoeiro pelas costas.
A consciência esvaindo. O cheiro metálico. O chão fugindo sob meus pés. E agora ali estava eu, redivivo num palco ancestral.
E então, vieram os passos.
Lentos.
Pesados
Cerimoniais.
Não havia disfarce. O ser que se aproximava desejava ser ouvido, sentido, temido. Um rosnado grave ressoou, reverberando nas colunas e atravessando meu peito como trovão que desaba sob terra profanada.
Minha mente, ainda embaciada, sussurrava temores: “—É alucinação... é delírio...”
Tomei fôlego. E coragem — um farrapo dela.
— Que é que me observa da escuridão? — gritei, mas minha voz saiu rouca, trêmula, quase humana demais para aquele lugar.
Olhei para o alto da torre. Surgiram então duas asas descomunais, sombreadas contra o céu estrelado. A figura era uma silhueta até então dois pontos fulguravam — olhos de um azul etéreo, famintos, como dois fogos-fátuos no meio do nada.
Um anjo caído? Um espírito ancestral? Ou um juiz das almas tortas?
A criatura desceu com precisão bestial, traçando um mergulho mortal. Ao tocar o solo, as tochas espalhadas pelas colunas acenderam-se espontaneamente, iluminando-o em chamas de espectral laranja e púrpura.
Ele era... horrendo e sublime.
Corpo humanoide, esculpido como pedra viva — mármore que transpirava condenação. Asas negras como breu, mãos com garras longas que ansiavam por carne, e um rosto... um rosto que parecia feito da morte. Não do cadáver. Da morte.
— Pequena criatura... existência frágil... sabes tu onde te encontras? — sua voz soou como sinos tocados em um funeral ancestral. Grave, ecoante, cortante.
Tentei falar. A garganta ainda se fechava.
— N… não sei onde estou... e menos sei quem... ou o que... é você. — murmurei, ainda apoiado à uma coluna de pedra fria.
Ele caminhou em minha direção, com a solenidade de um algoz.
— Este é meu domínio, criaturinha. Aqui pesam teus erros. Aqui o destino se curva. Aqui os loucos e os orgulhosos são finalmente despidos de suas ilusões. Sou Var’Ghul, o Guardião das Almas, o Juiz dos Malditos. E é sob minha presença que as sentenças são proferidas.
Um riso irônico escapou-me, ainda que trêmulo.
— Depois de tudo… agora um juiz? Um tribunal? — ri, mas o som morreu na garganta.
Apoiei-me com esforço. Levantei-me. A tontura me assaltava como maré. Mas recusei-me a encarar o julgamento ajoelhado.
— Seja o que fores... não temo mais espectros. Já caminhei entre cadáveres... já ouvi preces no meio do fogo. Já morri mais de uma vez em alma. — minha voz se elevava, ainda que fragilmente.
Var’Ghul parou, avaliando-me com olhos de abismo.
— Nestor te trouxe aos meus domínios. O infame mordomo conhece bem os limites da ousadia... até mesmo ele se curva diante de mim. — sua voz, por um instante, transbordava escárnio e desprezo.
Senti uma estranha fagulha de esperança se acender — tênue, mas viva.
Talvez Var’Ghul não fosse somente juiz. Talvez, fosse também uma saída. Uma chave. Um limiar entre a danação e a redenção.
— “Então julgue-me. Se este é o fim... quero ouvir a sentença com olhos abertos.” — disse, agora em pé, mesmo trêmulo, como soldado diante da baioneta.
Ele sorriu. Pela primeira vez, sorriu.
E o frio na espinha tornou-se glacial.
— Ah... mas para julgar, Anton S. Miahi... preciso ver tudo. Cada lembrança. Cada pecado escondido nos porões de tua alma. E isso, meu filho, vai doer mais que mil mortes.
Var’Ghul ergueu a mão direita — os dedos ossudos se abriram como garras de um deus antigo — e então pronunciou com uma voz que ressoava em cada molécula do meu ser:
— “Que se rompam os selos do tempo… e que as memórias do condenado fluam diante do Julgador.”
Naquele instante, algo invisível me perfurou a fronte. Um estilhaço de dor, tão agudo, tão terrível, que me dobrou os joelhos. Não era uma dor física. Não. Era uma lâmina que atravessava minha alma, como se arrancassem, de um só golpe, os véus que eu mesmo havia colocado sobre meus próprios pecados.
Minhas pálpebras se fecharam — ou foram fechadas por alguma força que não reconhecia. E então vi.
A neve tingida de vermelho.
As trincheiras devoradas pelo frio.
Os olhos dos soldados — meninos, irmãos, monstros — fitando-me em seus últimos segundos.
Var’Ghul narrou como se lesse um códice sagrado, impiedoso, mas não cruel:
— “Tu estavas entre os sobreviventes do cerco de Mitrova. Foste o único a ordenar a retirada. Ordenaste, sim… mas deixaste para trás três homens. Um ferido. Dois perecendo. Salvaste doze. Traíste três. Calculaste o sangue.
Eu gritava por dentro, mas minha boca estava muda. Meus olhos jorravam lágrimas sem que eu os controlasse.
— E naquele dia… após incendiar os corpos dos que jaziam sob o gelo… teus próprios soldados te chamaram de herói.
Var’Ghul deu um passo adiante. A cada palavra sua, meu peito ardia como se brasas fossem enterradas sob minhas costelas.
— Na floresta de Drovnik… ataste explosivos ao ventre de um prisioneiro. Usaste-o como armadilha. Foi eficaz. Salvou a tua vida. Mas deixaste o terror escorrer pelas folhas como uma maldição.
— Chega... — murmurei, a garganta cravada de espinhos.
— Na cidade devastada de Petrowska... alimentaste uma criança com tua própria ração. Depois, a deixaste dormir ao teu lado no frio... e ela sobreviveu. Mas jamais soube teu nome.
A lembrança daquela menina — olhos grandes, cabelos como carvão molhado — me desarmou. Caí ao chão. Var’Ghul se ajoelhou diante de mim, os olhos faiscando com um azul ainda mais profundo.
Sua mão tocou meu peito.
E então, ele mergulhou mais fundo.
Vi o castelo.
As celas.
O sangue nas paredes.
Meus gritos contidos.
Minha fúria.
Meu desejo de libertar, mesmo quando tudo indicava ruína.
Ele viu.
Ele sentiu.
— A ti, Anton, coube a escolha de destruir a chave para fugir... e usá-la para libertar outros. Mesmo sabendo que te deixaria à mercê da besta.
Vi os rostos dos prisioneiros. Os mesmos que me deixaram para trás. E senti... que mesmo o bem que eu praticava era consumido por sombras.
Var’Ghul se ergueu. Um silêncio sepulcral tomou o recinto. Até as tochas pareceram se calar.
— Anton S. Miahi… teus pecados são muitos. Tuas mãos manchadas de sangue e cálculo. Mas... tua alma não é covarde. Fizeste escolhas entre abismos. E ainda assim, salvaste outros. Mesmo quando ninguém mais te via.
Ele estendeu a mão. Uma luz tênue, azulada, cintilou entre seus dedos — como se acendesse uma chama que nunca morrera de fato.
— Teu julgamento... é favorável. Ainda que não sejas puro, és digno. Seguirás adiante. Pois tua história... ainda não terminou.”
Meu corpo tombou, exausto.
Mas algo dentro de mim — algo ancestral, algo esquecido — se reacendeu.
Var’Ghul desapareceu na penumbra como fumaça que retorna à lareira dos mortos. As tochas se apagaram, uma a uma. E a última imagem que vi foi o céu estrelado, testemunha muda do veredito.
Então, silêncio.
E depois… uma nova respiração.
 Crônicas de Sangue e Sombras
Crônicas de Sangue e Sombras
Anton Stefan Miahi nasceu para os livros e a reflexão, educado num tempo de paz. Aos trinta anos, porém, foi arremessado às batalhas sangrentas contra os prussianos, liderando soldados numa guerra que desafiava toda lógica que lhe era preciosa. No lúgubre Castelo Drácula, Anton enfrenta novamente o caos, onde eventos bizarros testam os limites da razão. Assombrado por traumas e perdas, ele percebe que a racionalidade é apenas uma frágil chama em meio à tempestade sombria da loucura. » Leia todos os capítulos.

Aslam E. Ramallo
Aslam E. Ramallo, renomado autor de "Réquiem para a Poesia" e "Amores Segredos & Poesia", mergulha na essência do Ultrarromantismo e do existencialismo moderno em suas obras literárias. Este prolífico escritor, também destacado professor de história, tece narrativas que transcendem o tempo, imersas na melancolia gótica e na reflexão existencial. Com maestria, Ramallo entrelaça os fios da emoção humana com a complexidade histórica... » leia mais
 16ª Edição: Soramithia - Revista Castelo Drácula
16ª Edição: Soramithia - Revista Castelo Drácula
Esta obra foi publicada e registrada na 16ª Edição da Revista Castelo Drácula, datada de maio de 2025. Registrada na Câmara Brasileira do Livro, pela Editora Castelo Drácula. © Todos os direitos reservados. » Visite a Edição completa.
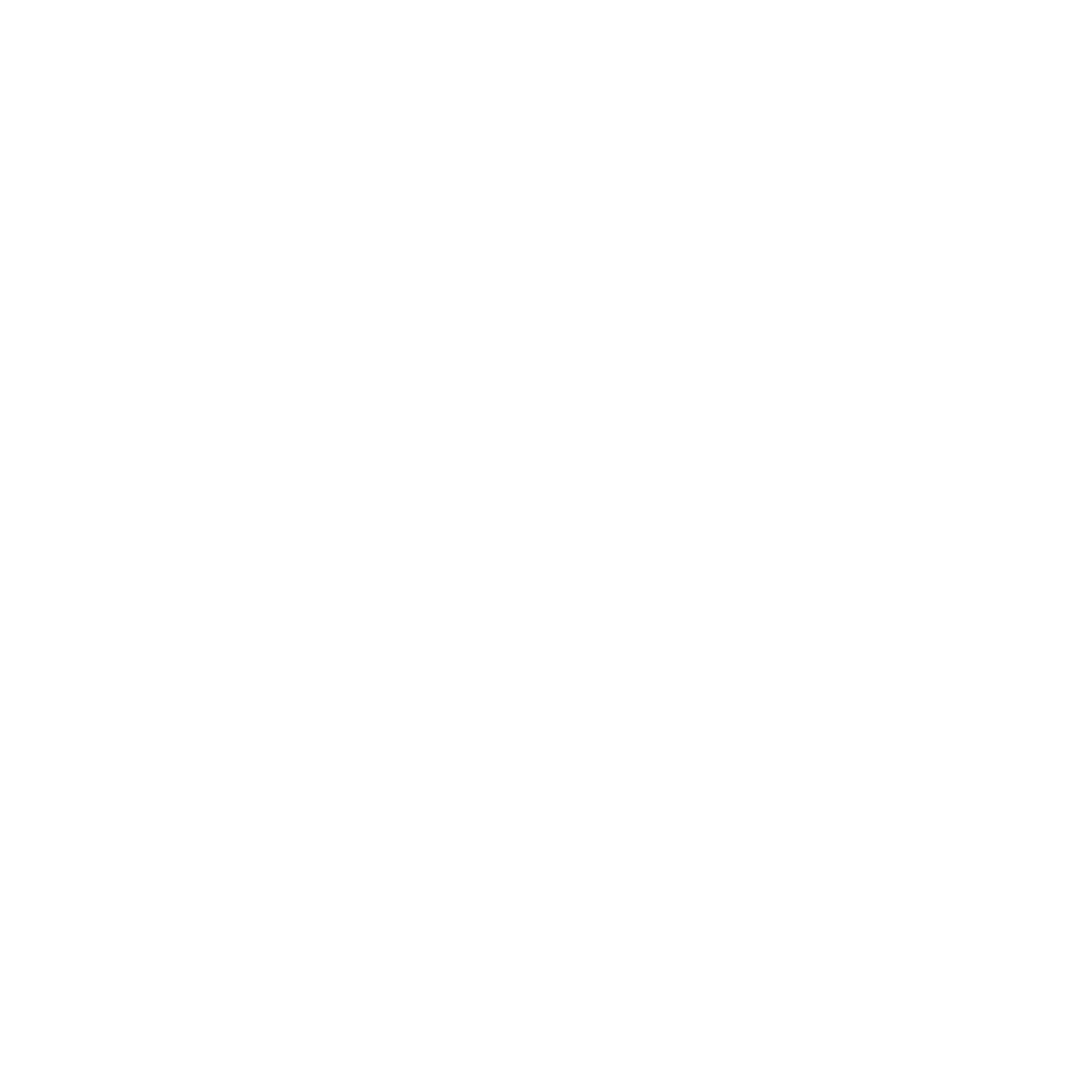




Diário de Sibila von Lichenstein. (Sem data - que dia é hoje?) A partida de Arale deixou um vazio em meu interior. Era curioso — talvez até contraditório…