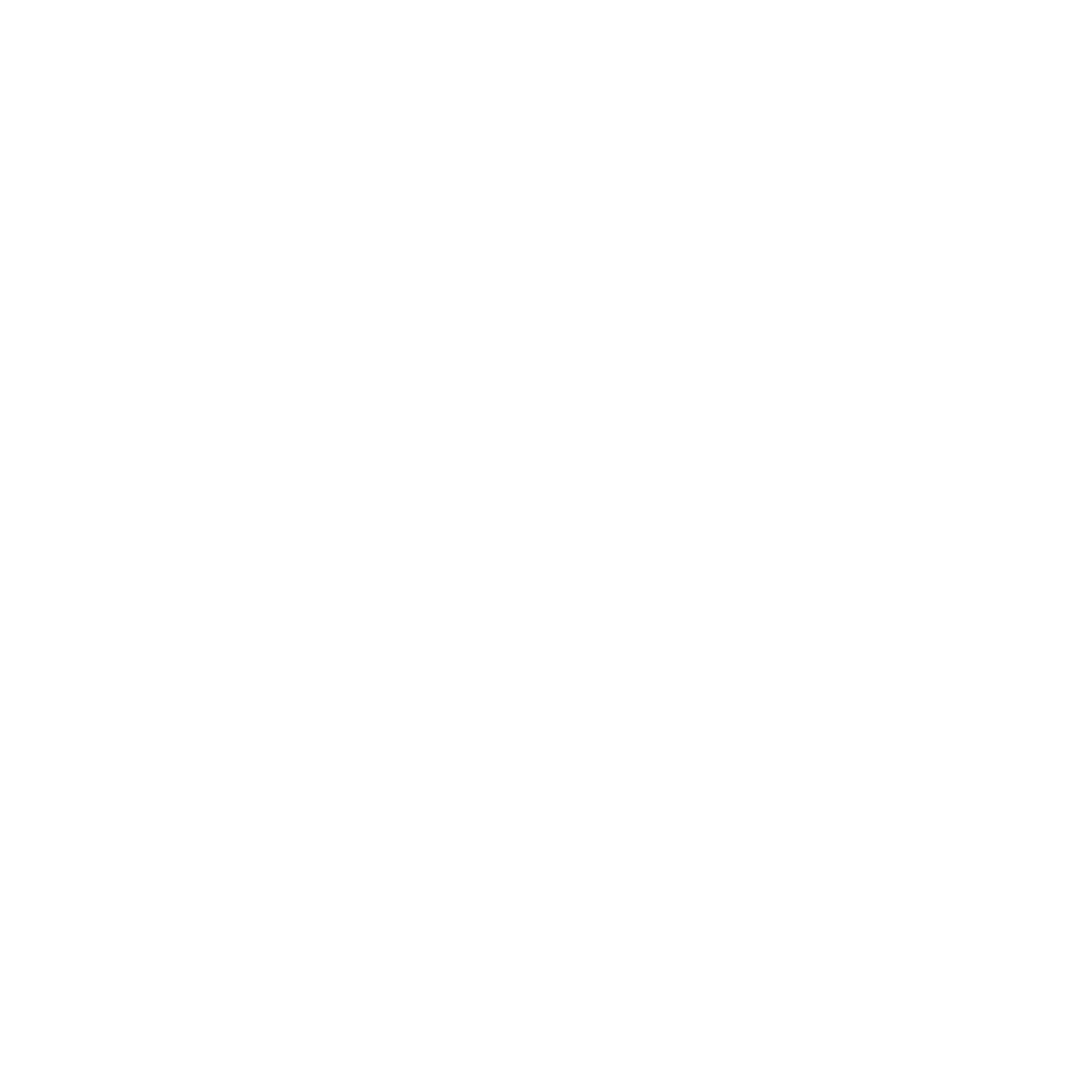O Retrato
Imagem criada e editada por Sara Melissa de Azevedo para o Castelo Drácula
Com um movimento violento e preciso de minhas mãos, um arremesso de tinta laranja-abóbora na tela completara a pintura, e o transe finalmente terminava. Vivaz, espirituoso e, ao mesmo tempo, fúnebre, o retrato estava completo. Ele é a lembrança de um passado mais simples, um passado mais calmo, em que eu era eu mesmo. Que retrato, você me pergunta? Ora, o retrato da defunta, da decomposição, do que acontece com a carne morta quando vai ao chão. O retrato de minha mãe.
Ela morrera cinco outonos atrás. Terminei seu retrato meses depois. É assim que me lembro dela, é a imagem mais vívida que tenho, minha âncora em meio à tempestade da loucura. Lembro-me de seu corpo parcialmente devorado pelos vermes e dos fungos que crescem onde antes floresciam suas generosas pupilas. Penso nesse retrato com frequência. É a melhor memória que tenho de quem eu era e foi também assim que tudo isso, o que escrevo agora nessas páginas, começou.
Em nossa família, pintamos assim há gerações. Das abóboras, fazemos o pigmento alaranjado; das beterrabas, o vermelho-sangue; das hortaliças, o verde; do musgo, os tons mais escuros. Trazemos vida para a arte morta ao usar a própria vida. A vida decomposta, esmagada, misturada, transformada, morta, mas ainda assim viva. Esses são meus ingredientes; esses sempre foram nossos ingredientes. A morte traz para a tela o que um dia já foi, e dali em diante, eternamente será. É inebriante como conseguimos cristalizar o efêmero; é a nossa própria forma de honrar e dar vida eterna aos ingredientes que alimentam nossa arte — e, por extensão, nossa própria vida. Outrora, já fomos muitos, nosso sobrenome carregado por dezenas, sim, dezenas de receptáculos. Dezenas de pintores, de artistas, pessoas capazes de, assim como eu, eternamente capturar o que há de mais belo e mais transitório neste mundo: a vida.
Mesmo que hoje esteja sozinho, ainda sou muitos. A verdade é que o mundo seguiu em frente e nós ficamos. Cada vez menos primos tinham descendentes, tios que não encontravam tias, irmãs que morriam cedo; cólera, tísica, a ciência, a medicina, o progresso — cada um, um golpe em nossa família, em nossa vida. O mundo seguiu em frente, e eu sou o último.
Não há mais ninguém; somente eu conheço o segredo que vive em minha família há centenas de anos, talvez milhares. Um segredo lúgubre, laranja-carmesim. O segredo de que, para capturar a vida, é necessário também a morte. A mesma carne que alimenta os vegetais alimenta também nossas tintas: carne fresca, ossos, sangue e carne putrefata. Há incontáveis retratos de nossa família espalhados pelo mundo, todos feitos de acordo com a tradição: o corpo ancestral alimenta a própria tinta em um ciclo perpétuo de decomposição e arte.
É claro que não parei de pintar nesses últimos anos em que fui o único. Eu não poderia cessar a arte e deixá-la morrer, a arte que é a própria vida. A pulsação da vida precisava continuar. Mesmo não tendo mais corpos ancestrais, eu precisava pintar. Descobri que nem só de ancestrais se faz tinta — mas de qualquer um. Essa é a beleza da minha obra desde então: posso honrar qualquer pessoa. Qualquer um que seja digno pode ser cristalizado em arte — basta, é claro, que eu tenha acesso a seu corpo decomposto, a seu sangue putrefato, e à vida que cresce nutrida pelos seus restos. Criei muito mais nesses últimos cinco anos do que nos trinta que os antecederam, pois não preciso mais esperar o curso natural da vida. Posso, afinal, antecipar a morte. Basta querer. Basta fazer.
Foi por causa dessa descoberta e dessa prática que me perdi. Desconfio que não fui o primeiro de minha família a fazer tal descoberta — mas fui o primeiro de quem tive certeza. Hoje sei que não fui o único; há ecos de vidas passadas que habitam minha mente, dançam em meu consciente e se confundem com quem eu sou.
Há algo mais que preciso registrar nestas páginas: desde que pintei minha mãe, eu a escuto. Ela sussurra em meus pensamentos — e grita, algumas noites — conta-me verdades esquecidas. Mas mãezinha não é a única, não, é claro que não. Eu sei tanto sobre tantas pessoas, são tantas vozes... todas as pinturas, todos os retratos que pintei, estão mais vivos do que nunca. Os corpos se movem, as tintas tomam formas, se misturam e formam novas cores, as pinturas falam. Falam diretamente em meus pensamentos — e eu as escuto.
Mais do que escutar, eu me tornei outros. Com o passar dos anos, à medida que lentamente me perdia, acabei por esquecer quem eu era. Há tantas histórias, tantas famílias, tantas vidas interrompidas por minhas mãos, e que agora vivem pela minha mão, veem pelos meus olhos e são meus pensamentos. Não poderia lhe contar meu nome, pois ele se dissolveu em muitos. Não poderia lhe contar o nome de minha família, pois o sangue foi misturado.
Em meu desespero, há dois outonos, ofereci meu braço esquerdo ao jardim. E pintei. Pintei meu próprio braço — não um retrato, não, não. Nunca ousamos pintar um retrato de alguém vivo. Estremeço agora, mesmo amarrado, só de pensar nas possíveis consequências. Mas a verdade é que retomei um pouco mais de mim. Meu braço direito começou a se comportar mais como eu mesmo — mas os pensamentos, as vozes, a sabedoria e a existência, ah! Elas continuaram se misturando. Em um esforço de compreender melhor meu passado, passei então a retocar antigos retratos de meus antepassados com tintas frescas — tintas de outros corpos, tintas de outras pessoas.
Sou lembrado agora de uma doce, feliz memória: o dia em que ganhei meus pincéis das mãos ensanguentadas de minha mãe. Meu irmão acabara de nascer, e minha mãe me contou que eu teria a honra de pintá-lo. Nasceu natimorto. Foi uma noite feliz, e a lembrança me faz sorrir. Sou lembrado de outra memória: do dia em que dei meu primeiro beijo, anos depois de já ter ganhado meus pincéis. Um rapaz elegante visitava minha família querendo vender sementes para nosso jardim de rosas. Como era encantador... Espere. Rosas? Nós nunca tivemos um jardim de rosas. Enfurecido, reconheço que assim têm sido meus dias. Confusos, com memórias que são minhas e memórias que são minhas, mas não originalmente minhas. Vejo os quadros andando pela casa. Vejo meu avô cozinhando o almoço e me alimento da comida que ele preparou. Mas meu avô está morto há décadas. Fui eu quem cozinhou? Foi sua vida animada com poderes sobre a própria matéria, mesmo depois de morto? Não sei dizer. Mas meu pai limpava a casa enquanto eu comia.
Foi assim que pude, então, conhecer muito mais sobre nossa família; soube que não fui o primeiro a explorar retratos de fora da linhagem. Outros parentes ousados já o haviam feito, mas nunca tiveram os excelentes resultados que obtive. Fui o primeiro a misturar tinturas, fazendo com que o próprio sangue se misturasse. Nosso — meu — legado hoje se confunde com o legado de tantos outros. Sou pintor. Sou vendedor. Sou bailarina. Sou médico. Não, médico não. Médicos não compreendem a beleza da morte; prolongam, inutilmente, a efemeridade da vida. Eu posso cristalizá-la para todo o sempre.
A confusão me levou a continuar tentando, tentando conseguir voltar a ser único novamente. Mesmo que meu braço tenha se tornado meu novamente, mesmo que tenha continuado pintando, a confusão crescia. Precisava descobrir mais sobre quem eu era. Precisava saber. Foi então que ofereci, no outono passado, minhas pernas ao jardim e as pintei. Minha esperança era de que — pelo mesmo princípio da oposição que restaurou meu braço — a parte inferior de meu corpo restauraria a parte superior. Não foi o que aconteceu.
Hoje, é como se minhas pernas tivessem tomado vida própria. Pela primeira vez, não cristalizei um momento efêmero de vida, mas, sim, dei vida a uma pintura. Elas andam por aí, vagando; às vezes me trazem notícias, outras vezes somem por vários dias. Não as vejo, é claro, mas sei que vagam. Eu sei que andam com rumo e propósitos próprios. Nós sabemos. Meus pés vagantes nos contam segredos que descobrem. Às vezes estou aqui, mas estou também tão longe, tão distante, experimentando chãos sob os quais nunca pisei. Agora mesmo, enquanto escrevo estas páginas em uma noite fria, com lágrimas escorrendo de meus olhos, sinto — em ambas as minhas mãos — o chão úmido e convidativo do jardim onde plantamos, ansioso, aguardando o que está por vir. Mas sinto também a textura do veludo. Sedoso, leve, aquecido, das deliciosas roupas de cama onde minhas pernas se deitam com outrem. Somos tantos. Vivi mais vidas do que jamais pude imaginar. Deitei-me com mais pessoas do que jamais me deitaria se não fosse por minha arte. Por minha pintura. Sinto que descobri o verdadeiro significado de honrar a vida através da morte. Sou a própria materialização de tal honra, pois, através da morte, vivo — vivemos.
Estou perdido. Perdi-me em tal honra — por um lado, essa é a maior e mais intensa exploração da arte de minha família em séculos — meus antepassados me dizem o tempo todo. Suas vozes ecoam em minha mente, pedindo que eu continue e me incentivando a não desistir, implorando que não abandone minha família. Por outro lado, anseio ser eu novamente. Quero poder viver minha vida, descobrir coisas novas e não saber de coisas que não vivi. A angústia entre abandonar a tradição secular para ser eu mesmo ou continuar era tremenda. Preciso me libertar das memórias que não me pertencem, e por isso, decidi, há duas semanas, decidi. Eu precisava de uma saída, precisava voltar a ser eu mesmo, mas também precisava continuar com a arte. Era a única solução.
Cortei a madeira, comprei o aço, afiei a lâmina. Além de pintor, tornei-me carpinteiro. Trabalhei arduamente noite após noite e, nesse mesmo jardim, construí uma guilhotina. Minha própria guilhotina. A consciência de estar criando-a pesava em cada golpe do martelo. Sei que fui eu quem a construiu, sei que essa arte foi somente minha: as vozes gritavam em meus pensamentos a cada segundo em que trabalhei nela. Uma cacofonia ensurdecedora ocorria em minha mente enquanto meu braço trabalhava: “Não faça isso!”, “Pare imediatamente!”, “Você condenará sua família ao esquecimento!”, entre tantas outras advertências, ameaças e súplicas. Não dei ouvidos a nenhuma delas. Sei que estão enganadas. Quanto mais avançava, mais difícil ficava. Somente uma parte de mim não lutou contra o restante do meu corpo enquanto construía: minhas pernas. Não posso dizer o porquê com certeza, é claro. Mas desconfio que seja porque elas sabem que estaremos reunidos ao fim de tudo.
Em minha desesperada busca por mim mesmo, fui mais longe do que qualquer um de minha família já foi. Quebrei a última barreira esta noite: terminei meu próprio retrato. Completo. Ainda vivo. Pela primeira vez pintamos alguém a partir de seu corpo vivo e não putrefato. A profundidade dessa criação não posso ainda compreender, não sei mais quem sou, mas sei o que pintei. Sei que posso voltar a ser eu mesmo. Sei que posso ter minha própria vida.
Enquanto contemplo, agora, a lâmina brilhante sob a luz laranja da própria lua, percebo que o retrato não é apenas um reflexo de quem fui, mas também de quem posso me tornar. Preciso desfazer completamente a linha entre a vida e a arte, pois o que está por vir não é um fim, mas um recomeço. Meu coração, meus pulmões, meu torso, ali — aqui — está a vida. Ali está o ar que respiro, o sangue que percorre minhas veias — e a tela de meu retrato — ali estou eu.
Minha mente, no entanto, está tomada por todos os retratos que pintei e restaurei, por todas as outras vidas que interrompi e que vivi. Preciso separar eu de mim mesmo, para que possa novamente me tornar quem serei. Amarrei-me à guilhotina para que não fuja do meu próprio destino — não sei do que as vozes, meus pensamentos, seriam capazes nesses últimos minutos de suas vidas, enquanto escrevo minha própria história para mim mesmo.
É chegada a hora. Com a mesma mão com a qual registro essas últimas palavras, liberarei a lâmina que entregará minha cabeça — minha mente — ao jardim. Sei que somente assim meu corpo poderá seguir, sendo eu, apenas eu. Meu retrato será alimentado com o alimento que nascerá da minha cabeça, do jardim fertilizado novamente. E então, finalmente, serei eu novamente. Completo. Como arte. E o resto? O resto é sangue.